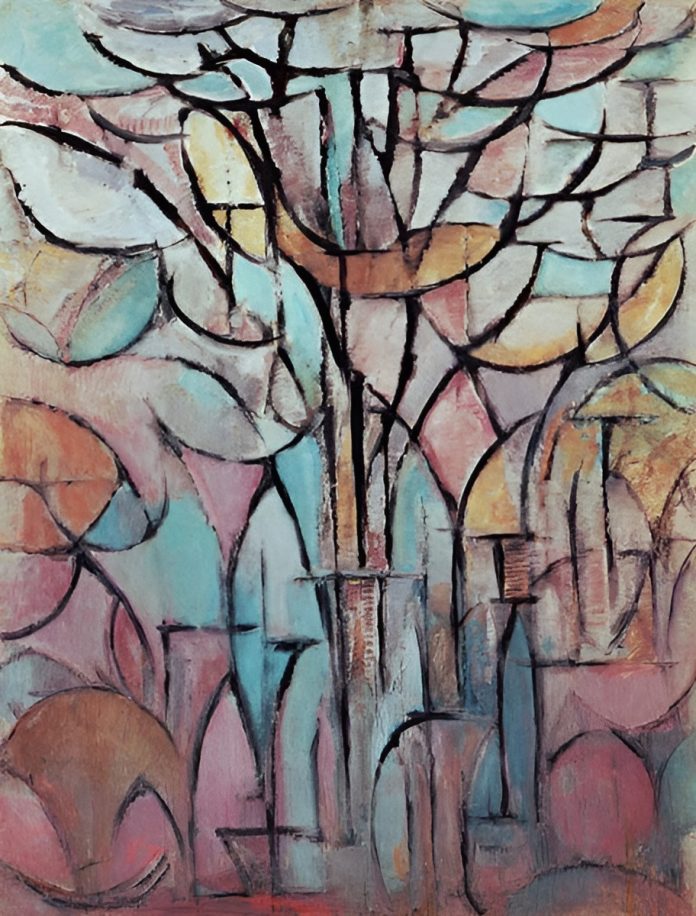Em seu segundo artigo de estudo do Prólogo da Fenomenologia do Espírito de Hegel, com vistas ao lançamento do segundo volume de “O marxismo e a transição socialista”, Roberto Saénz articula conexões entre a filosofia hegeliana e marxismo. O autor destaca a importância de compreender a realidade em seu desenvolvimento, criticando abordagens estáticas e formalistas, como a simples “fotografia” da realidade, e defendendo a análise do devir e da totalidade.
Retomando Hegel, Saénz argumenta que, apesar do idealismo hegeliano, há um núcleo materialista em sua abordagem, pois conhecer o mundo é apropriar-se dele, apreendendo suas leis internas. Marx teria “colocado Hegel de cabeça para baixo”, mas reconhecendo o valor do método dialético para captar o movimento real.
A partir daí, enfatiza que a essência das coisas está em seu desenvolvimento, não em estados fixos e aplicando-os aos debates sobre a degeneração do Estado operário soviético, ressalta que a dialética materialista exige considerar o movimento e as transformações históricas, e não apenas a manutenção de formas institucionais, como, por exemplo, se encontra nos debates produzidos por Natalia Sedova e Peng Shuzhi, que diferenciam revolução socialista de revolução anticapitalista, e a necessidade de pensar a continuidade e os desdobramentos da revolução.
Enfim, a dialética é fundamental para a análise da realidade natural e social, superando o dualismo entre lógica formal e movimento, e que a conexão entre Hegel e o marxismo é profunda e atual, sendo essencial para pensar os desafios contemporâneos.
REDAÇÃO
Por Roberto Sáenz
“(…) a diferença, assinala justamente Jaspers, está na coerência, que nos produtos espirituais de um louco (…) dura pouco, enquanto que nos grandes pensadores, medularmente sãos, dura mais do que no homem médio. Claro está que esta diferença incomparável não gira somente em torno de fatores de ordem formal, como a coerência. Mais decisiva é a coerência quanto às coisas mesmas de que se trata. Um homem [ser humano] como deve ser leva adiante a causa pela qual começou a laborar e, nesse sentido, devemos incluir Hegel entre os melhores”
Ernst Bloch, O pensamento de Hegel: 20
Após o desenvolvimento que realizamos a propósito da primeira parte do primeiro parágrafo que escolhemos comentar do Prólogo à Fenomenologia do espírito, ponto [a] (“Exercícios dialéticos”, parte 1), continuamos [1] neste artigo nosso comentário-percurso da segunda parte desse parágrafo e do restante do Prólogo. A densidade do pensamento hegeliano obriga a que nossa reflexão (autorreflexão: tentativa de apropriação dada a riqueza do pensamento hegeliano) se traduza em textos longos que buscam estabelecer conexões. Um trabalho de citações, uma “escavação” no pensamento de Hegel (o conceito é de Lenin e referia-se a Marx), que busca (re)unir distintas fontes: tornar inteligível o pensamento hegeliano bem como tornar mais consciente sua, a, dialética; daí a função destes exercícios.
1 – Digressão sobre a degeneração da URSS [2]
Lembremos primeiro a citação com que vimos trabalhando desde a parte 1 deste “exercício”: “(…) [a] por existir a filosofia, essencialmente, no elemento do universal, que leva dentro de si o particular, [b] suscita mais do que qualquer outra ciência a aparência de que no fim ou nos resultados últimos se expressa a coisa mesma, e inclusive se expressa em sua essência perfeita, frente ao que o desenvolvimento parece representar, propriamente, o não essencial. Ao contrário, na noção geral de anatomia, por exemplo, considerada algo assim como o conhecimento das partes do corpo em sua existência inerte, tem-se a convicção de não se achar ainda na posse da coisa mesma, do conteúdo desta ciência, e de que é necessário esforçar-se ainda por chegar ao particular” (Fenomenologia do espírito: 7).
Passemos então ao ponto [b] sobre a dialética entre a coisa e seu desenvolvimento, um ângulo que, nos adiantamos a assinalar, rompe com a apreciação empírico-superficial-formal das coisas: o mero “fotografar”, tomar um “instantâneo” da realidade no sentido morto da coisa (Kosić em sua crítica da pseudoconcreticidade).
Por exemplo: um suposto “Estado operário” que definha durante décadas “igual a si mesmo” em seu caráter “instantâneo”, uma mera lógica formal onde A = A congelado no tempo, isto é, que nunca devém B, C ou D, escapando, assim, à dialética materialista que sempre devém, que tem auto movimento, que afirma que tudo o que existe está condenado a desaparecer, que o que não avança retrocede, que supõe momentos de identidade que depois são transbordados em momentos de não identidade: um Estado operário que no processo de sua evolução –ou involução– avança pelo caminho da transição socialista ou se transforma em outra coisa (degenera, transforma-se num Estado burocrático com restos da revolução, por exemplo).
É interessante que nos debates dos anos 40 a respeito da URSS se falasse do par “degeneração-regeneração” da A URSS na amarga controvérsia entre defensistas e anti-defensistas, que, de todo modo, deixou assinalamentos metodológicos de importância nas palavras de Natalia Sedova (estalinofilia e estalinofobia, ambos os ângulos tiveram elementos unilaterais; a realidade foi mais complexa): “O ‘socialismo’ desapareceu; o regime permaneceu. Um “Estado operário” degenerado pressupõe que se move ao longo de um caminho (path) de degeneração, ainda que preservando seu princípio básico, a propriedade nacionalizada. Mas assim como é impossível construir o socialismo em um só país, é impossível preservar de maneira inviolável este princípio básico, se se pressupõe o caminho reacionário, destruindo todas as demais conquistas de 1917 (…) vocês aparentemente têm em mente o setor ainda nacionalizado da propriedade e o planejamento econômico (…) A nacionalização que foi levada adiante na época da revolução tinha seu objetivo na igualdade e no crescimento do nível de vida das massas. Nas condições do avanço da reação e nas mãos da burocracia bonapartista ainda se preserva, mas se afastou (away) de seu propósito inicial (…) A regeneração é possível via uma revolução que derrube a burocracia e leve ao socialismo” (Natalia Sedova, cartas de 16/09/1944, 23/09/44, 6/11/44).
Recordamos aqui definições esquemáticas do movimento trotskista na segunda pós-guerra do tipo “a realidade é mais trotskista do que pensava Trotsky” porque se “expande a expropriação dos capitalistas por todo o globo ainda que o sujeito revolucionário não seja a classe operária” … Logicamente, essa afirmação era objetivista. Perdía de vista o que sublinhara o trotskista chinês Peng Shuzhi (um “teórico político” genial segundo as palavras de Nahuel Moreno): que a teoria da revolução permanente tem duas faces: a) que as tarefas pendentes da revolução burguesa não podem ser resolvidas de maneira consequente sem a revolução socialista; b) mas também desmente que se chamasse “socialista” toda revolução que expropria. Ou seja, estava contra considerar automaticamente toda revolução que expropriasse a burguesia como “socialista”. Nas palavras de Peng: “esquece-se habitualmente que a outra armadilha do mau uso da revolução permanente é considerar toda revolução, lisa e francamente, como ‘socialista’” …
Uma avaliação “ampliada” da teoria da revolução permanente neste século XXI não pode ser levada a cabo sem levar em conta a afirmação de Peng a propósito da Revolução Chinesa, isto é, sem dar conta da distinção entre revolução socialista e revolução anticapitalista (sem a compreensão de que nem toda expropriação dos capitalistas é uma revolução socialista: O marxismo e a transição socialista. Estado, poder e burocracia).[3]
Porque foi precisamente esse hiato que impediu dar os passos subsequentes colocados na própria teoria da revolução permanente de Trotsky, a problemática sobre “o que ocorre no dia seguinte à revolução”: a) a continuidade da revolução no plano internacional; b) a transformação socialista no país da revolução. Ao que parece, os trotskistas não entenderam nem entendem a palavra permanente na teoria de Trotsky! “O problema de hoje que requer imediata solução segue sendo: O que sucede no dia seguinte [da revolução]? Como podemos continuar com o desencadeamento da dialética (…) com os princípios que ele [Marx] esboçara em sua Crítica do Programa de Gotha? O problema do «que sucede depois» adquire crucial importância, já que aponta ao autodesenvolvimento e ao autoflorecimento da “revolução permanente”. Ninguém sabe o que é isso, nem pode apalpá-lo antes que apareça. Esta não é uma tarefa que possa ser levada a cabo só por uma geração” (Raya Dunayevskaya, 2010: 54).
Diante dos anacronismos “trotskistas” do pós-guerra, objetivistas e subjetivistas, necessita-se uma melhor combinação de ambos os termos para atualizar nossa teoria da revolução frente aos desafios dramáticos colocados por este novo século.
E nisso nos acontece algo paradoxal: recorrentemente voltamos sobre os artigos de Valerio Arcary, marxista brasileiro, porque algumas de nossas temáticas se cruzam. Arcary sofre, lamentavelmente, de falta de dialética, razão pela qual seus textos ficam ecléticos (deveria fazer seus próprios “exercícios dialéticos”).[4] De todo modo, um artigo recente de sua autoria, “A excepcionalidade chinesa”, chega à conclusão paradoxal de que hoje a China seria um “Estado burocrático” (sic). O valioso da coisa é que abre sua cabeça; o contraditório é seu ecletismo: “Que haja um híbrido de relações sociais capitalistas e pós-capitalistas [atenção: em si mesma a planificação estatal não é nenhuma ‘relação pós-capitalista’, e sim algo próprio do capitalismo de Estado] não autoriza a conclusão de que o Estado chinês já seja capitalista (…) Se quem controla o Estado, há quase meio século, é uma casta burocrática consolidada em torno de um projeto de restauração capitalista, então, talvez, a melhor caracterização é que o Estado [chinês] é burocrático”.
O problema aqui é que não se entende a “lógica histórica” da coisa. Para Arcary a Revolução Chinesa de 1949 foi uma autêntica revolução socialista que deu lugar a um Estado operário sob a lógica do “substitucionismo social” (o campesinato realizando as tarefas da classe operária), para depois devém no Estado burocrático atual. Sua sequência seria Estado burguês sob o Kuomintang, Estado operário sob Mao, Estado burocrático mais ou menos desde Deng. Mas mesmo admitindo os dois primeiros termos de sua sequência, a coisa não tem lógica do ponto de vista marxista. Porque o que temos na China hoje, de maneira muito evidente e segundo uma massa de analistas, é um Estado burocrático-capitalista dirigido por uma burocracia-burguesa apoiado em relações de produção capitalistas: o trabalho assalariado mais puro e mais duro e a criação de mercadorias mais puras e mais duras, independentemente de quanta intervenção do Estado exista. Existe, efetivamente, uma hibridação das categorias (um conceito que adiantamos em nossa obra O marxismo e a transição socialista; será que Arcary estará lendo nossa obra?), mas ficar no mero nível do Estado sem levar em conta as relações sociais subjacentes é um exercício idealista.
2 – A dialética como exercício de limites e canais
Voltando a Hegel, depois do longo excursus que acabamos de realizar, ele se pergunta: “Onde se expressa a coisa mesma?”, e responde: “no seu devir” (no seu desenvolvimento). Denuncia que a abordagem “anatômica” das coisas é uma apreciação inerte, sem vida. Porque, está claro, disso se trata a tarefa do médico anatomista: o estudo dos corpos mortos (que já não têm evolução possível). A abordagem dos fenômenos em seu “fluir”, em seu desenvolvimento, “constituem tantos momentos de uma unidade orgânica”, unidade orgânica apreciada como o desenvolvimento da coisa: “O botão desaparece ao abrir-se a flor, e poder-se-ia dizer que aquele é refutado por esta, do mesmo modo que o fruto faz aparecer a flor como um falso ser-ali da planta, mostrando-se como a verdade desta em vez daquela. Essas formas não apenas se distinguem entre si, mas eliminam-se umas às outras como incompatíveis. Porém, no seu fluir, constituem ao mesmo tempo tantos momentos de uma unidade orgânica, na qual, longe de contradizer-se, são todos igualmente necessários, e essa igual necessidade é precisamente a que constitui a vida do todo” (Hegel, 2012: 8). Hegel acrescenta imediatamente que na polêmica perdem-se muitas vezes os momentos mutuamente necessários desse todo. E efetivamente é assim, porque no necessário “inclinar a vara” para alcançar as definições, as determinações da coisa que excluem outra (Hegel assinala que os limites de uma coisa se definem por exclusão da outra: determinatio est negatio afirmava Spinoza).[5] Na polêmica pode perder-se de vista “algo” do todo que, entretanto, fica radicalmente capturado em sua essencialidade sob essa forma polêmica (Kosić assinala algo semelhante em Dialética do concreto). Voltaremos a isso.
Esses “momentos” constituem a “vida do todo”. Vale dizer: o todo, a totalidade, a resultante, constitui uma totalização sempre parcial, nunca definitiva, a formação de canais e cristalizações que depois se rompem. Aqui valem tanto a lógica formal quanto a dialética: a) sem “o momento da lógica formal” –a determinação como negação– não poderíamos identificar nenhum momento específico da coisa (a crítica marxista kantiana de Lucio Colletti à contradição hegeliana, à qual supostamente sempre “escapariam as coisas”, segundo ele. Colletti critica a contradição hegeliana em favor da “contradição real”, o inevitável momento da identidade das coisas consigo mesmas).
E, no entanto, isso só captura um momento do desenvolvimento do real: as cristalizações de que falava Trotsky (Escritos sobre Lenin, dialética e evolucionismo, 1933-35). Mas, nesse caso: b) onde ficariam os canais, o dinamismo do movimento, o momento do negativo e a contradição? Porque se ficarmos somente no terreno da mera lógica formal, sem superá-la dialeticamente, sem o aufheben (o superar-conservando hegeliano), teríamos apenas “esqueletos anatômicos”, uma “realidade sem realidade”, sem carne, sem sangue, sem vida, como denunciava Lenin; sem o lado revolucionário da dialética que Marx reivindicou desde sua extrema juventude em sua análise crítica da Fenomenologia nos seus Manuscritos de Paris: “O prefácio à segunda edição [da Ciência da lógica] está novamente cheio de ‘atividade imanente’ e do ‘desenvolvimento necessário’ que leva Lenin a dizer (…): ‘O que se necessita não são leblose Knochen (ossos sem vida), mas vida viva’” (Dunayevskaya citando Lenin, 2010: 113/4). Um ângulo metodológico leninista que já vimos em nossa nota anterior (“Exercícios dialéticos, parte 1”) e que Lenin tinha presente desde seus primeiros e agudos escritos contra os populistas (“Quem são os «amigos do povo» e como lutam contra os social-democratas?”).[6]
Hegel toma como “protoforma da dialética” a polêmica (a palavra “protoforma” é nossa, traduz-se como forma primeira ou original, “molde inicial”, mas nós lhe damos uma torção no sentido de “forma universal”), o que é ilustrativo sobre como funciona a própria polêmica: os sofistas da Antiguidade eram grandes dialéticos, embora se deva evitar o relativismo (isto é, uma espécie de “dialética vazia” de conteúdo vivo).
Assinala que “na figura do polêmico, o que se tem são os momentos mutuamente necessários da mesma” e insiste em que a crítica na polêmica deve tomar o elemento negativo, mas também as afirmações positivas que se encontram em quem criticamos; que a crítica deve ser interna ao criticado e não externa a ele (a crítica deve ser imanente para ser válida, não pode ser externa ao objeto criticado). Por sua parte, Gramsci afirmava o mesmo, algo que já assinalamos na nota anterior: ao contrário da guerra, onde a frente inimiga rompe-se pelo elo mais débil, na polêmica teórica é preciso tomar a principal casamata do adversário.
E é lógico: sem os termos da polêmica, não há polêmica (termos no sentido de “atores” da polêmica): “A distinção entre subjetivismo (ceticismo, sofística etc.) e dialética, de passagem, consiste em que a dialética (objetiva) a diferença entre o relativo e o absoluto é ela própria relativa. Para a dialética objetiva há um absoluto dentro do relativo [se não existisse um absoluto dentro do relativo nenhuma afirmação poderia ser válida]. Para o subjetivismo e a sofística, o relativo é apenas relativo e exclui o absoluto [não há conhecimento da verdade, só resta relativismo]” (Lenin, 1974: 328).[7]
Em síntese: não existe análise do real natural e social sem a unidade de contrários que significa a dialética, os princípios de identidade e de não identidade: “fixismo” e movimento do real.
3 – O remontar-se ao universal
Hegel volta à carga introduzindo o conceito de “fim”. O fim como objetivo, como “primeiro motor” em Aristóteles, tem sua importância e seu lugar na filosofia e no marxismo: “Com efeito, a coisa não se reduz ao seu fim, mas se encontra em seu desenvolvimento, nem o resultado é o todo real, mas o é em união com seu devir; o fim por si é o universal desprovido de vida, do mesmo modo que a tendência é o simples impulso privado ainda de realidade, e o resultado escuso simplesmente o cadáver que a tendência deixa atrás de si. Do mesmo modo, a diversidade é antes o limite da coisa; aparece ali onde a coisa termina ou é o que esta não é” (idem: 8).[8]
O ângulo de visão é o da totalidade. Cada momento do desenvolvimento, apreciado de maneira separada, fica como formal, sem vida: a) a coisa só se encontra em seu desenvolvimento; b) o resultado só pode ser apreciado em união com seu devir (resultado e desenvolvimento – desenvolvimento e resultado); c) a tendência ainda é uma espécie de “latência”; d) o resultado “escuso” fica como cadáver, como fotografia, como uma resultante sem vida, algo estático. Por fim, e) a diversidade mostra o limite de cada coisa: aparece ali onde a coisa termina ou é o que ela não é, porque, logicamente, já é outra coisa (idem: 8).
Hegel insiste agudamente que o resultado não é o todo real, mas o é em união com seu devir. Isto pode ser abordado no sentido de que o resultado não pode ser entendido por completo sem apreciar o desenvolvimento que o faz ser tal. Por exemplo, um “Estado operário” não pode nunca ser uma determinação abstrata, mas sempre deve ser qualificado (determinado, adjetivado): Estado operário com uma “deformação burocrática”, definiria Lenin o Estado Soviético no começo dos anos 20, por exemplo.
E vice-versa: Hegel insiste que a tendência é ainda o simples impulso privado de sua realidade e acrescenta, dialeticamente, que o resultado simples é o “cadáver” que a tendência deixa atrás de si, uma forma aguda e polêmica, e até poética, de dar a entender que a resultante tem vida: não é uma mera costa posta absolutamente, e sim o subproduto de todo um desenvolvimento submetido a “exigências” que estão adiante, que seguramente a redefinirão de uma ou outra forma: tem vida.
Hegel acrescenta que a diversidade (que seria como a lei) é o limite da coisa discreta: o mundo está cheio de coisas limitadas por outras coisas. E a soma dialética de todas elas seriam a totalidade. Uma totalidade que na filosofia é o universal e que na política é como elevar-se acima do exclusivismo; ver a rica variedade que constitui o universal humanidade.
Bloch assinala que a obra com que Hegel inicia sua carreira literária é a mais obscura de todas e também a mais profunda em sentido. Concebida como uma obra especialmente “fácil”, Hegel não conseguiu o que se propunha: impediu-o a plenitude de visão que esta obra encerra. É uma obra pletórica sem igual, cheia de riqueza transbordante e de fogo, absolutamente poética e absolutamente científica, dada a dialética que encerra, acrescentamos nós: uma incomparável “fermentação matinal”, agrega Bloch (1949: 44).
O filósofo marxista alemão acrescenta que, partindo das sensações imediatas dos sentidos, Hegel remonta-se, de um modo cada vez mais mediato, até o conhecimento, até a pletora de determinações: o universal. Trata-se de uma autoeducação do espírito no mundo, no desdobramento do mundo. E acrescenta que já nisso se revela a semelhança do plano desta obra com o do Fausto de Goethe. Esta “escada” é formada pelos degraus da coisa, as determinações da coisa, o ser, o nada e o devir do primeiro capítulo da Ciência da lógica ou o primeiro capítulo de O capital, a mercadoria como valor de uso e valor que se expressa no valor de troca (existe uma evidente homologia entre os dois primeiros capítulos dessas duas obras magnas da filosofia universal e do marxismo. Ruy Fausto, O Capital e a Lógica de Hegel). Partindo da simples certeza sensível de um aqui e um agora, vai-se desenvolvendo rumo a formas do universo cada vez mais ricas. Este caminho pedagógico, ao apresentar-se como um caminho da consciência, aparenta ser um caminho psicológico, mas não é isso apenas, nem muito menos (Bloch, 45). E aqui o filósofo marxista alemão (que Mandel considerava o principal do século XX) introduz a torção materialista ao assinalar que o caminho de Hegel na Fenomenologia é “ao mesmo tempo um caminho histórico e até natural”, tudo isso entrelaçado: uma “galeria das formas” que na realidade é, acrescentamos nós, uma galeria da “substância material” do mundo expressa nessas formas (em Hegel forma e conteúdo aparecem invertidos idealistamente: as formas parecem ser o conteúdo do conteúdo e não a expressão necessária do próprio conteúdo).[9]
Como digressão, o anterior, isto é, a “lógica dos fins”, poderia remeter-nos a uma discussão clássica na filosofia política quanto à relação imanente entre fins e meios no sentido da unidade dialética indissolúvel entre ambos. Numa dialética materialista, o fim, os fins, não podem “desengatar-se” dos meios. Isso é assim porque o próprio fim está posto nos meios, meios que, por sua vez, dialética e contraditoriamente, acham-se condicionados pela materialidade do terreno no qual se desenvolve a ação (a complexidade das coisas faz com que nem sempre possamos escolher “livremente” nossos meios). Assim, a relação de meios e fins é um “campo de tensão” entre três termos e não apenas dois: os fins, os meios e o terreno material no qual se desenvolve a relação meios fins.
Se a relação-tensão de puros fins cai no “utopismo”, a relação de puros meios (“no movimento socialista os meios são tudo, os fins nada”, Bernstein) cai no pragmatismo: estamos, assim, diante de uma tensão nada fácil de resolver e que só pode ser apreciada de maneira concreta, materialista, a partir da totalidade da ação histórica que se leva adiante (A sua moral e a nossa).
Ou seja, as relações meios e fins estão marcadas pelo imanentismo e não por um vínculo externo. O que Hegel aportava, assinalará Bloch, com sua Fenomenologia, era a necessidade de extrair da razão não leis matemáticas abstratas que flutuam sobre um monte de fatos fortuitos, mas uma conexão imanente de conteúdos concretos. E o meio adequado para isso não poderia ser outro senão a história, ou seja, a exposição da marcha concreta e do devir concreto das coisas, de onde vão surgindo, por sua vez, as especificações do universo: “(…) a dialética hegeliana (…) é teoria do movimento. Mas não de um movimento que conserva seu caráter puramente mecânico, como em Galileu e em Newton, e sim de um movimento qualitativo-produtivo, de um movimento de história real, no qual brota, de modo necessário e mediado, algo novo” (1949: 51).
4 – “Um perfeito materialista”
Voltando ao Prólogo, ainda neste ponto 1 denso em definições, “A verdade como sistema científico”, Hegel nos assinala que “O começo da formação e do remontar-se desde a imediatidade da vida substancial tem de proceder sempre mediante a aquisição de conhecimentos de princípios e pontos de vista universais, em elevar-se trabalhosamente até o pensamento da coisa em geral, apoiando-a ou refutando-a por meio de fundamentos, apreendendo a rica e concreta plenitude conforme suas determinabilidades, sabendo bem a que se ater e formando um juízo sério a seu respeito. Mas esse início da formação terá de dar lugar, em seguida, à seriedade da vida pletórica, a qual se adentra na experiência da coisa mesma; e quando ao anterior se some o fato de que a seriedade do conceito penetre na profundidade da coisa, teremos que esse tipo de conhecimento e de juízo ocupará na conversa o lugar que lhe corresponde” (Hegel, 2012: 9).
Neste parágrafo há coisas que já comentamos, mas o que chama a atenção é que, em si mesmo, é perfeitamente materialista. Em definitiva, o remontar-se desde a imediatidade da substância (a “vida substancial”), do que aparece à primeira vista, utilizando conhecimentos de princípios e pontos de vista universais, poderíamos dizer, nossas categorias e leis referidas a tal objeto, apreendendo sua rica e concreta plenitude atento às suas determinações, significa adentrar-se na experiência da coisa mesma, penetrar na profundidade da coisa, em definitiva, conhecê-la (e talvez transformá-la), o que, como afirmação, não tem nada de idealista (a reversibilidade idealista-materialista das abordagens de Hegel é uma das coisas fundamentais para entender seu pensamento!).[10]
Hegel remata este ponto afirmando que a verdadeira figura da verdade não pode ser outra que o sistema científico: “contribuir para que a filosofia se aproxime da forma da ciência para chegar a ser saber real”. O saber real alude a apreciar a “necessidade interna” da coisa. Ou seja, o conhecimento imanente da mesma, o motor interno que a move superando todo dualismo na apreciação da realidade: “A divisão de um todo único e o conhecimento de suas partes contraditórias (…) é a essência (…) da dialética (…) Este aspecto da dialética (por exemplo, em Plekhánov) recebe habitualmente uma atenção inadequada: a identidade dos contrários é entendida como soma de exemplos (…) e não como uma lei do conhecimento (…) como uma lei do mundo objetivo”, afirma Lenin (“Sobre o problema da dialética”, 1915). Assim, à vista da unidade dos contrários como lei da dialética, vê-se que esta supera e contém ao mesmo tempo a mera lógica formal, contra os marxistas que afirmam que a dialética “não seria uma ferramenta do conhecimento”: “a dialética é a teoria do conhecimento de Hegel e do marxismo”, afirmará Lenin (estamos parafraseando-o).
“A identidade dos contrários (…) sua «unidade» (…) é o reconhecimento (descoberta) das tendências contraditórias, mutuamente excludentes, opostas, de todos os fenômenos e processos da natureza (inclusive o espírito e a sociedade). A condição para o conhecimento de todos os processos do mundo é seu «automovimento», em seu desenvolvimento espontâneo, em sua vida real (…) o automovimento, sua força impulsora” (Lenin, idem).
Afirma Dunayevskaya: “(…) as quatro páginas e meia denominadas «Sobre o problema da dialética» (…) foram colocadas de modo antidialético pelos stalinistas como se elas e Materialismo e empiriocriticismo [1908] (…) fossem o mesmo Lenin, quando na verdade este último é bastante mecânico (…)”. E acrescenta: “A prova exata do que Lenin tinha em mente quando escreveu ao final dos Cadernos filosóficos [era que] nenhum marxista (no plural, isto é, incluindo a si mesmo) (…) havia compreendido O capital de Marx na última metade do século” (“Comentários sobre a Ciência da lógica”, em O poder da negatividade: 112).
Em síntese: o conhecimento científico é apreender a lei dialética que em cada caso concreto rege o movimento da natureza e da sociedade, movimento que deve ser apreciado segundo uma análise materialista concreta da realidade concreta em cada caso.
Em Hegel estão solapados idealistamente os problemas ontológicos e os problemas epistemológicos (o gnosiológico parece ser ontológico e não ao inverso, como é o caminho real da coisa, isto é, que os problemas sobre o “ente” precedem os problemas sobre o conhecimento do ente tal).
Como assinalamos na nota anterior, Bloch inicia sua obra O pensamento de Hegel recordando que, a título de crítica e superação de Kant (o dualismo kantiano entre aparência e essência, entre o cognoscível e o incognoscível), em Hegel não existe nenhuma coisa que não possamos conhecer, não existe um problema propriamente epistemológico-gnosiológico nele. Sua imagem do conhecimento é que “à realidade há que devorá-la”. E o que nos parece é que, ao dar conta Hegel do movimento do pensamento, que na realidade é o movimento do real bem compreendido, isto é, de maneira materialista, Hegel aborda os problemas “ontológicos” e “epistemológicos” de uma vez, sem separá-los (como já assinalamos, a forma aparece como o conteúdo do conteúdo e não ao “inverso”: como a forma necessária do próprio conteúdo).
Conhecer o mundo é apropriar-se dele. E apropriar-se do mundo é apreender seu funcionamento íntimo. Num só movimento se resolvem ambos os problemas e “facilmente” pode reverter-se o ângulo idealista sobre se o que Hegel pensa que é o movimento da realidade é o movimento do pensamento ou o contrário: que o movimento do pensamento expressa o movimento real.
É por isso que Marx podia assinalar, repetimos, que a tarefa é “colocar Hegel sobre seus pés”, porque em seus fundamentos, na “mecânica” de seu pensamento, é muito materialista: captura o real.
Hegel propõe uma batalha ardorosa e quase fanática por “arrancar o homem de seu afundamento no sensível, no vulgar, no singular (…) para fazer com que seu olhar se eleve às estrelas” (idem: 10), o que é um planteamento extraordinário, iluminista, próprio do Iluminismo: é preciso sair da estreiteza de vistas e elevar-se às questões mais profundas da experiência humana. Kant assinalará algo parecido em seu conhecido texto “O que é o Iluminismo?”: “O Iluminismo é a libertação do homem de sua culpável incapacidade. A incapacidade significa a impossibilidade de servir-se de sua inteligência sem a guia de outro. A incapacidade é culpável porque sua causa não reside na falta de inteligência, mas de decisão e coragem para servir-se por si mesmo dela sem a tutela de outro. Sapere aude! [Atreve-te a saber!].
Para além de que não se trata de “culpabilidade” alguma, o chamado do Iluminismo que recepcionam Kant e Hegel tem muito a ver dialeticamente com o complexo desafio, historicamente determinado, de elevação da classe operária a classe histórica: tomar em suas mãos a tarefa que a revolução burguesa não pôde resolver e emancipar a humanidade de suas cadeias sociais, acabar com todas as relações de exploração e opressão que fazem dos seres humanos seres desumanos.
Assim as coisas, e como se vê, a conexão de Hegel com o marxismo é descomunal. Marx nos permite abordar Hegel como materialistas. Mas, do mesmo modo, a problemática de Hegel é a que está materialistamente em Marx e no marxismo (a contemporaneidade de suas problemáticas é gigantesca).
Bibliografia
Paolo Becchi, “Hegel y las imágenes de la Revolución Francesa”, Revista de Estudios Políticos (nueva época), nº 73, julio/septiembre 1991.
Ernst Bloch, El pensamiento de Hegel, Fondo de Cultura Económica, México, 1949.
- La philosophie de la Reinaissance, PAYOT, París, 2007.
Raya Dunayevskaya, El poder de la negatividad. Escritos sobre la dialéctica en Hegel y Marx, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2010.
W. F. Hegel, Fenomenología del espíritu, Fondo de Cultura Económica, Argentina, 2012.
–Lecciones sobre la historia de la filosofía, I, Fondo de Cultura Económica, México, 2008.
Emmanuel Kant, “¿Qué es la Ilustración?”, Google.
I. Lenin, Cuadernos filosóficos, Ediciones Estudio, Argentina, 1974.
Natalia Sedova, cartas varias en The fate of the Russian Revolution volume 2. The two trotskyisms confront Stalinism, Worker’s Liberty, 2015.
NOTAS
[1] Na nota anterior, “Exercícios dialéticos, parte 1”, introduzimos a subtitulação original de Hegel segundo a tradução revisada por Gustavo Leyva à original de Roces e Guerra. Contudo, não havíamos introduzido a subtitulação criada por estes últimos, que é a que estamos seguindo nestas fichas devido a seu caráter pedagógico. De passagem, assinalemos que estas fichas trabalham sobre o texto traduzido pelos segundos e não a revisão incorporada pelo primeiro.
Assim, apresentamos o índice criado por Roces e Guerra de modo pedagógico para essas fichas, isto é, para o instrutivo exercício de comparar ambos os índices: I. As tarefas científicas do presente. 1. A verdade como sistema científico. 2. A formação do presente. 3. O verdadeiro como princípio e seu desdobramento. II. O desenvolvimento da consciência rumo à ciência. 1. O conceito do absoluto como o conceito do sujeito. 2. O devir do saber. 3. A formação do indivíduo. III. O conhecimento filosófico. 1. O verdadeiro e o falso. O conhecimento histórico e o matemático. 3. O conhecimento conceitual. IV. O que se requer para o estudo filosófico. 1. O pensamento especulativo. 2. Genialidade e são senso comum. 3. O autor e o público. [2] Este ponto corresponde a: I. As tarefas científicas do presente. 1. A verdade como sistema científico, dos títulos e subtítulos da edição de Roces e Guerra. [3] Juan Dal Maso, em um artigo titulado “Em busca da forma atual da revolução permanente”, não apenas não parece buscar nada (repete algumas afirmações óbvias a respeito do recuperado peso das tarefas democráticas inclusive nos países do centro imperialista devido às tendências à bonapartização de seus regimes), como, para cúmulo, descarta de plano qualquer ensinamento das revoluções do século XX para a teoria da revolução: “Refiro-me à sua teoria [a teoria de Trotsky] sobre a burocratização da URSS (…) Está mais ou menos aceito na tradição trotskista que é uma elaboração, se não parte, ao menos complementar à TRP, pelo que não a abordaremos em maiores detalhes” (sic; trata-se de uma afirmação estúpida e néscia que se nega a abordar os ensinamentos da burocratização da revolução. Além do mais, deveria falar da “tradição trotskista” no plural porque não há uma, e sim várias). A “secura” e o formalismo desta corrente, a FT, crescem a olhos vistos a cada dia que passa. [4] Vemos Arcary como o exemplo de um marxista da Segunda Internacional no século XXI. Historiador, por alguma razão nega-se redondamente à necessária reflexão filosófica a que obriga o pensamento marxista. Na ausência de dialética, o que resta é ecletismo (entendido como uma ligação externa dos conceitos): “(…) em toda ideia filosófica dá-se essa transição de uma qualidade à outra, põe-se em relevo essa íntima conexão existente no próprio conceito e segundo a qual nada pode existir independentemente sem o outro, mas a vida da natureza consiste, precisamente, em que o um tenha um comportamento necessário com respeito ao outro” (brilhante, como sempre, Hegel, 2008: 68). [5] Aparentemente, esta definição, que é usualmente atribuída a Spinoza, encontra-se já em Giordano Bruno, um pensador mais importante e complexo do que se pensa usualmente. Bloch desenvolve um belo capítulo em sua recapitulação dos pensadores do Renascimento, assinalando que Bruno estava seduzido pela ideia do infinito, tal como ocorreu com Anaximandro, o segundo filósofo pré-socrático (Hegel). Bloch nos diz que o mundo da Antiguidade é o mundo da forma, da plasticidade, da estrutura, do limite, da noção, da forma, de termos limitativos. Que somente Anaximandro se expressa em um sentido diferente, mas que o pensamento dos filósofos gregos se orienta para a estrutura: certo, o não-estruturado pode existir, mas enquanto caos” (2007: 43).
Por certo que Castoriadis justamente vai no sentido oposto: reivindica a ideia de caos essencial, inicial, do infinito e do indeterminado de Anaximandro um pouco como base filosófica de sua reflexão. Uma reflexão com elementos autoemancipatórios, que dá enorme peso ao sujeito, mas num sentido quase anarquista, indeterminado, em certo modo oposto ao materialismo. (O que faz a Grécia, 1. De Homero a Heráclito. Seminários 1982-83. A criação humana II). [6] Na obra de Dunayevskaya que estamos citando, seus editores em castelhano acrescentam: “Na tradução da Ciência da lógica do alemão ao espanhol esta frase traduz-se do seguinte modo: ‘Os ossos sem vida de um esqueleto, atirados em desordem’” (N. do T.) (idem: 114). [7] A definição em Lenin do conhecimento como o absoluto dentro do relativo, a verdade espiralizada que se vai conquistando no desenvolvimento da ciência, dialeticamente, é extremamente aguda. [8] Hegel cita Aristóteles a respeito: “Evidentemente, o que tratamos de adquirir é a ciência das causas primeiras: dizemos que conhecemos uma coisa quando pensamos ter descoberto sua primeira causa. Pois bem, o termo de causa entende-se em quatro sentidos. Chamamos causa, primeiro, à essência ou o que faz com que algo seja o que é: o porquê das coisas leva a seu conceito extremo e o porquê primeiro é uma causa e um princípio. Chamamos causa, segundo, à matéria ou o substrato. Terceiro, àquilo de onde recebe seu princípio o movimento. E quarto, à causa oposta de toda geração e de todo movimento” (2008: 160); assim, como se aprecia, causa e fim se solapam, o que, efetivamente, parece muito dialético (lembramos aqui a afirmação de Rakovsky de que causa e consequência mudam permanentemente de lugar no processo histórico, um enfoque dialético da própria história se é que existe!). [9] “A Fenomenologia repousa, do começo ao fim, sobre um princípio, que é o pensar mediado com o ser, o Eu com o Não-Eu” (Bloch, 1949: 45), definição que poderíamos inverter de forma materialista para afirmar que se trata do ser mediado pelo pensar, embora a dialética do Eu e o Não-Eu possa manter-se tal qual na lógica do sujeito e objeto enquanto tenhamos presente que, nessa dialética, sempre o objeto, a natureza cósmica, será maior do que nós, a própria humanidade, que (re)age sobre a natureza e a sociedade. [10] Althusser queixa-se da afirmação de Marx de que é preciso pôr Hegel de cabeça para baixo, assinalando que isso seria separar método de conteúdo e que é o conteúdo mesmo em Hegel o que estaria “falhado”, por assim dizer. Mas isso é uma reverenda estupidez, e o é por duas razões: a) porque a riqueza do pensamento hegeliano, o conteúdo de determinações sobre a coisa mesma que tem, de nenhuma maneira está “falhado” (Hegel “resume” o pensamento anterior a ele de maneira descomunal); b) parece escapar a Althusser que, goste ele ou não, é um fato real que, invertendo muitas vezes as definições de Hegel, obtêm-se definições perfeitamente materialistas.
Imagem: Piet Mondrian (1872–1944). “Árvores”. 1912