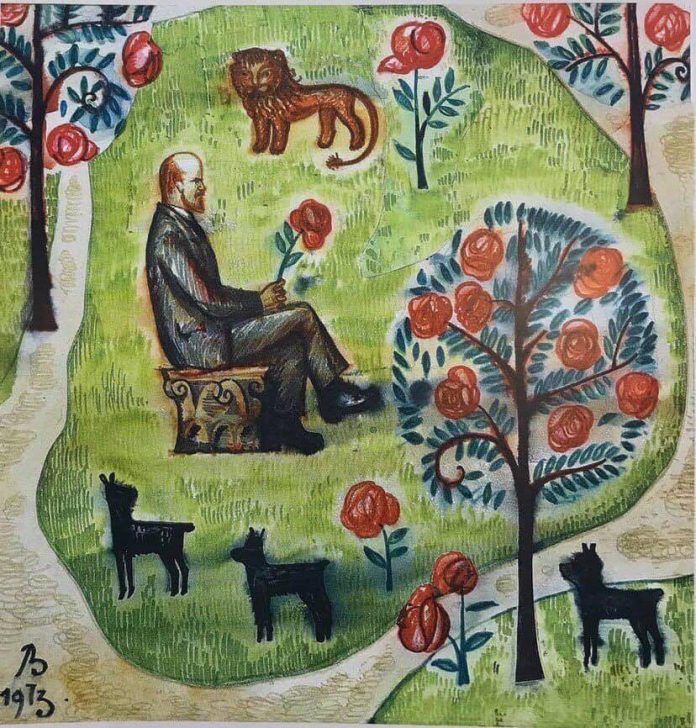Damos início neste momento à publicação de uma série de artigos, em uma prévia do que será o Volume II de O marxismo e a transição socialista: Estado, poder e burocracia. Obra de Roberto Sáenz, dirigente da Corrente Internacional Socialismo ou Barbárie, em relação a qual ofereceremos versões ao público lusoparlante. O Volume I, que está sendo traduzido e terá edição impressa na língua portuguesa para o início do próximo ano, foi dedicado aos aspectos políticos da revolução e transição socialista e o Volume II terá como foco a economia de transição. Estamos diante do esforço teórico de realizar uma revisão crítica do marxismo do século XX sob o ângulo do balanço do stalinismo, ancorando em décadas de reflexão sobre os nossos clássicos, em dezenas de autores e na experiência militante advinda de décadas de construção do Nuevo Mas e da Corrente Internacional Socialismo ou Barbárie.
REDAÇÃO
O debate sobre a economia planificada
Prévia da obra do Volume II de “Marxismo e a Transição Socialista”
15 de março, 2025
“(…) quanto mais os seres humanos se afastam dos animais no sentido mais estrito da palavra, quanto mais eles conscientemente fazem sua própria história, mais a influência de efeitos imprevistos e forças descontroladas sobre essa história se reduz, e o resultado histórico corresponde com maior exatidão ao objetivo predeterminado. Mas se aplicarmos essa medida à história humana, inclusive a dos povos mais desenvolvidos de hoje, observamos que ainda existe uma desproporção colossal entre os objetivos previstos e os resultados obtidos, em que os efeitos imprevistos predominam e as forças incontroladas são muito mais poderosas do que aquelas postas em movimento de acordo com um plano. (…) Somente a organização consciente da produção social, na qual a produção e a distribuição são realizadas de maneira planejada, pode elevar a humanidade acima do resto do mundo animal no aspecto social, assim como a produção em geral o fez com o gênero humano no aspecto especificamente biológico. ˜
Engles em Dialética da natureza, 1983
Revisão do artigo original: Patricia López
A seguir, apresentamos uma espécie de prévia dos trabalhos do volume II de nossa obra. Se trata de uma simples apresentação, mas tem o valor de servir como um “roteiro” geral do que está por vir, marcando que o trabalho de escrita e reescrita do segundo volume começou. [1]
Em nosso primeiro volume de ‘Marxismo e a Transição Socialista. Estado, poder e burocracia”, anunciamos que em seguida viria o segundo, aquele que se refere à economia da transição. E aqui estamos nós, iniciando o trabalho para o nosso segundo volume (o texto original data de 2010, agora submetido a uma reescrita completa e adicionando novos capítulos como volume II deste trabalho), que originalmente intitulamos Dialética da Transição, porque, precisamente, é disso que se trata a transição socialista: uma dialética materialista onde são colocadas em jogo um conjunto de determinações que compõem uma “dinâmica em fluxo” como acabamos de apontar; uma formação social em plena constituição. Logicamente, este segundo volume é realizado em polêmica com posições anteriores (capitalismo de Estado, coletivismo burocrático, Estado operário degenerado, etc.) [2]. No entanto, não queremos identificá-los neste ponto, porque, como apontamos, não se pretende que seja um trabalho de “rótulos“, classificatória, mas sim dando conta da dialética de um processo deixando lições para futuras experiências pós-capitalistas/socialistas. Mas, por isso mesmo, para tentar escapar de definições “acabadas”, assumimos em nosso trabalho essa lógica de “formação social” e não de um modo de produção acabado, que é muito apropriada ao nosso objeto: a economia da transição socialista e suas leis (reguladores, veremos).
1- Digressão sobre a abordagem metodológica do governo bolchevique
Antes de continuar, e por meio de uma longa digressão, queremos enfatizar que uma coisa deve ficar clara sobre um objeto que é deixado de fora desta obra (isso porque algumas das primeiras críticas que estão chegando até nós no volume 1 nos exigem exatamente isso): a análise crítica do governo bolchevique. Nossa abordagem se concentra no stalinismo, o salto degenerativo de qualidade que ele significou, para além de qualquer erro dos bolcheviques. No entanto, podemos deixar claro que nossa análise do governo bolchevique difere tanto da abordagem “reformista-kaustskyiana-liberal” no estilo do acadêmico canadense Lars T. Lih, bem como da abordagem facilista autonomista-anarquista, ambas em voga na academia [3]. O comum a ambos seria a ideia de que o “ovo da serpente” estaria no próprio bolchevismo e não na degeneração burocrática stalinista, que marcou uma ruptura de qualidade, como Trotsky apontou enfaticamente e da qual nós compartilhamos. Repetidas vezes nos anos 30, o grande revolucionário russo atacaria esse tipo de interpretação, algo que o “novismo” que marca a lógica dos scholars tenta questionar; “Bolchevismo e stalinismo” (1937) é um texto agudo a esse respeito.
Sobre a identificação do bolchevismo e do stalinismo, Trotsky aponta o seguinte nesse texto clássico: “O erro desse raciocínio começa com a identificação tácita do bolchevismo, da Revolução Russa e da URSS. O processo histórico, que consiste na luta de forças hostis, é substituído pela evolução abstrata do bolchevismo. No entanto, o bolchevismo é apenas uma corrente política (…) O bolchevismo se considerava um dos fatores históricos, seu fator “consciente”, um fator muito importante, mas não decisivo. Nunca pecamos por subjetivismo histórico. Víamos o fator decisivo – sobre a base dada pelas forças produtivas – na luta de classes, não apenas em escala nacional, mas também em escala internacional (…) a conquista do poder, por mais importante que seja, não faz do partido o dono todo-poderoso do processo histórico (…) Buscar a origem do stalinismo no bolchevismo ou no marxismo é exatamente a mesma coisa, em um sentido mais geral, que querer buscar a origem da contrarrevolução na revolução” (“Bolchevismo y estalinismo”, 1975: 14, 15, 21 e 22) [4].
Nesse educativo texto, Trotsky acrescenta “pérolas” que servem para enquadrar as interpretações do “novismo historiográfico” (o novismo historiográfico é uma deformação onde a verdade é instrumentalizada para fazer carreira na academia: descobrir sempre “algo novo”) [5]: “Certamente na URSS a camada dirigente é obrigada a se adaptar à herança revolucionária que ainda não está completamente liquidada, ao mesmo tempo em que preparava uma mudança de regime social por meio de uma guerra civil declarada (‘depuração’ sangrenta, extermínio em massa dos descontentes)” (idem, 1975:28 e 29). É claro que, em nossa opinião, ao contrário do que Trotsky aponta aqui, foi exatamente isso que aconteceu na década de 1930 com o giro stalinista para a coletivização forçada, a industrialização acelerada, o stakhanovismo e o Gulag, os Grandes Expurgos. Mas isso não diminui em nada o argumento que estamos defendendo: um rio de sangue correu – e sempre correrá – entre revolução e contrarrevolução!
Os relatos descontextualizados do chamado “comunismo de guerra”, de Kronstadt, da crise que marcou o poder bolchevique nos anos 1920/1921 nos parecem fora de foco, embora lições críticas possam ser tiradas daquele período marcado pelas restrições combinadas do legado da Primeira Guerra Mundial e da imediatamente seguinte guerra civil. Lih dá a palavra a Trotsky em um período que parece ser de grande interesse para ele: o do “comunismo de guerra” (Lih esclarece que foi um termo cunhado mais tarde, durante a Nova Política Econômica). Sua obra “What was bolchevism?”, uma coleção de artigos e ensaios publicados ao longo de 30 anos em diferentes revistas, tem como um de seus centros estudar o que ele chama de “os sonhos bolcheviques de um comunismo imediato com base na frugalidade” (as palavras são nossas), um verdadeiro “delírio” segundo ele. Na realidade, não se sabe desde que ângulo se move sua abordagem (ele afirma que tudo teria sido “simples” se os bolcheviques tivessem tributado os camponeses em vez de requisitar grãos) [6]
mas, em todo caso, enquanto critica Trotsky, ele lhe dá a palavra sem distorcê-lo em vários aspectos (tanto para ele quanto para vários outros líderes bolcheviques). Não apenas para o período da guerra civil, senão mais além: “Isso significava que o apoio de Trotsky aos mecanismos de compulsão/coerção do trabalho em 1920 indicava realmente que ele rejeitava incentivos materiais? Trotsky argumentava que os incentivos materiais deviam sempre permanecer uma realidade subjacente [ou seja, eles não poderiam ficar sem] durante a transição: ‘O esforço e a eficiência do trabalho são determinados em grande parte pelo interesse material pessoal. Para o explorado, o que é de importância decisiva não é a ‘casca jurídica’ através da qual ele obtém os frutos de seu trabalho [propriedade estatizada], mas, ao contrário, que porção deles ele obtém’” (Lih, 2023:122). [7]
Uma indicação aguda do conceito de “poder” na tradição do bolchevismo – de acordo com Lih, herdado da social-democracia, uma questão discutível – é o conceito russo de vlast [8] O autor canadense diz que é difícil para nós hoje dar conta dos ricos conteúdos de significado da palavra. Ele ressalta que, por razões principalmente de tradução, falar sobre vlast pura e simplesmente como “poder” pode ser confuso: “a palavra russa significa autoridade soberana no sistema político e, portanto, está mais próxima da palavra alemã ‘Macht’ ou da francesa ‘pouvoir’ do que da palavra inglesa ‘power’” (Lih, 2024:107). No entanto, compreendendo o quadro reformista e social-democrata a partir do qual Lih trabalha, é claro que, rebaixando a palavra poder e fortalecendo a ideia de “soberania no sistema político”, pode-se cair na ideia kautskiana do “poder”, isto é, de soberania proletária dentro da democracia burguesa.
Lih é um defensor fanático da continuidade em Lenin de Kautsky… Parece que o scholar canadense não deu a menor importância, por exemplo, à aguda ruptura filosófica que o estudo da “Ciência da Lógica” de Hegel significou para o grande revolucionário russo (ver “Marxismo e a Transição Socialista. Estado, Poder e Burocracia”, Volume I, Parte III, Ponto 8).[9]
Por outro lado, não podemos deixar de mencionar uma publicação da revista americana Jacobin sob a notação de “Estratégia” (sic) de um trecho de Massimo Salvadori “O Renegado Kautsky?“: “Para Lenin, em 1918, a ditadura do proletariado era um ‘poder baseado diretamente na força e não restringido por nenhuma lei’, ‘um governo conquistado e mantido pelo uso da violência do proletariado contra a burguesia, um governo que não é restringido por nenhuma lei“. Para o Trotsky de 1920, “aquele que em princípio renuncia ao terrorismo, isto é, às medidas de intimidação e repressão diante da contrarrevolução armada, deve também renunciar à dominação política da classe operária, à sua ditadura“, o que, de fato, é exatamente assim. No entanto, Salvadori defende outra perspectiva: “O que entendia Kautsky, então, por ditadura do proletariado? O poder obtido pela classe trabalhadora através da conquista do parlamento (…)” (Jacobinlat.com, 09/2024).
Preto no branco, a perspectiva revolucionária da ditadura do proletariado versus a perspectiva reformista da “conquista do poder” por meio do parlamento burguês, tal como visto por Kautsky, como bem lembra o autor desta nota, como mero instrumento da “técnica governamental”, qualquer que seja a classe que domina o Estado…
De qualquer forma, assim que pudermos, realizaremos essa discussão in extenso (uma prévia geral pode ser vista em nosso texto “Ascenso y caída del gobierno bolchevique“, Izquierda Web). Afirmarmos apenas por enquanto que nossa abordagem da degeneração stalinista parte de uma dobradiça clássica: a derrota da Revolução Alemã (1918-1923). A nosso ver, esse evento foi o alfa e o ômega que acabaram decantando o processo de burocratização (os outros eventos foram “causas concorrentes”, mas não “causa final”, para usar a linguagem aristotélica).
2- Os reguladores da economia em transição
Voltando ao nosso argumento, faremos a passagem neste segundo volume da esfera da teoria da revolução e da ditadura do proletariado (do Estado ou semi-Estado proletário) para o terreno da economia de transição. Contaremos sobretudo com a experiência da ex-URSS. Mas, como no resto desta obra, nosso interesse é tirar uma série de conclusões gerais sobre o processo de transição socialista como tal a partir da experiência muito rica, mas frustrada, do século XX. As “memórias do futuro”, as experiências pós-capitalistas, mesmo que tenham sido realizadas em condições de miséria material, que lhes impôs certos parâmetros (limites) que podem não ser os mesmos no futuro, para além do brutal desenvolvimento de forças destrutivas que estamos assistindo neste século XXI (ecocídio que está acontecendo diante de nossos olhos imporá novas restrições materiais às experiências não capitalistas que estão no futuro).
Rosa Luxemburgo havia apontado com acuidade em “A Revolução Russa” (um panfleto escrito na prisão em 1918, mas publicado apenas em 1921 por Paul Levi, não por ela mesma) [10] que era impossível pedir aos bolcheviques a “perfeição” socialista (as palavras são nossas, mas respeitam o significado de suas avaliações), dadas as condições materiais de sua ação, embora, logicamente, as “imperfeições” do processo que deu origem à Revolução Russa e às revoluções do segundo pós-guerra (ou melhor, no caso russo, a contrarrevolução stalinista que a sucedeu), fossem mais do que imperfeições: ocorreu um processo burocrático degenerativo que minou o conteúdo socialista do processo. A transição socialista foi bloqueada, inibida.
No primeiro volume de nossa obra, tentamos transmitir as lições dessa experiência no campo político, do Estado e da própria teoria do Estado, da revolução e da ditadura do proletariado contra o pano de fundo da elaboração do marxismo revolucionário (Lenin, Trotsky, Rosa, Gramsci e Rakovsky) e, ao mesmo tempo, fazendo um esforço para recuperar Marx e Engels a esse respeito (essa análise que resgata tanto o marxismo revolucionário quanto o marxismo clássico para trazer luz ao balanço do stalinismo não é uma operação comum entre o marxismo militante e nem entre os scholars do bolchevismo) [11].
Neste segundo volume, estamos interessados em abordar os processos subjacentes. Ou seja, as relações sociais de produção que estão por trás da forma (fetichizada, sob o stalinismo) da propriedade estatizada, uma forma carregada de falsos atributos pelo marxismo revolucionário tradicional (trotskismo) no segundo período do pós-guerra (fetichistas também eles). As relações sociais subjacentes são, então, a planificação, o mercado e a democracia proletária, formas das relações sociais de produção que podem ser abordadas, sob outro ângulo de análise, como reguladoras da economia de transição (no contexto da revolução internacional).
Pois, de fato, essas são as relações materiais subjacentes que estão por trás das relações jurídico-políticas, ou, dito de outra forma, aquilo que dá base material à progressão socialista (ou à regressão antissocialista) dos processos em andamento: “As leis do período de transição são fundamentalmente distintas das leis do capitalismo. Mas elas não são menos distintas das futuras leis do socialismo, isto é, da economia harmônica (…). As possibilidades de produção da centralização socialista, da concentração, da direção única, são incomensuráveis [a ‘forma planejada’ de que falara Engels em A Dialética da Natureza]. Mas uma falsa aplicação, e sobretudo por um abuso burocrático, podem se transformar em seu oposto [disto ainda não podia falar Engels]. Pode-se dizer que se tornaram em parte, uma vez que a crise já existe. Fechar os olhos ante essa crise significaria deixar o campo aberto às forças cegas da anarquia econômica [então a anarquia econômica surge também do ‘planejamento’ burocrático]. Tentar violar a economia pela força de chicotadas significaria multiplicar calamidades” (Trotsky, 1973:75).
Com relação a esse ângulo, dos reguladores econômicos do processo de transição, temos a impressão de que Trotsky chegou à formulação mais completa desse problema no panfleto que acabamos de citar, “O fracasso do plano quinquenal” (o paradoxo do caso é que, até onde sabemos, ele não adotou essa abordagem em nenhum outro trabalho)[12]: “A luta pelos interesses vitais, considerados como os fatores fundamentais da planificação, nos introduz na esfera da política, que é a economia concentrada. As armas dos grupos sociais da sociedade soviética são (devem ser): os sovietes, os sindicatos, as cooperativas e, acima de tudo, o partido dirigente. Somente a coordenação desses três elementos: a planificação estatal, o mercado e a democracia soviética, pode garantir uma direção correta da economia da época da transição e assegurar, não a liquidação das desproporções em poucos anos (isso é utópico), mas sua atenuação e, como consequência, a simplificação das bases da ditadura proletária” (panfleto escrito em 1932).
Avalia-se aqui, além da descoberta na experiência dos reguladores da economia da transição socialista, que foram subjugados de uma forma ou de outra pelos vários experimentos burocráticos – economia de “comando” puramente burocrática, abertura reformista ao mercado, em todos os casos ignorando a democracia socialista [13] – a “hibridização” de categorias econômicas na transição socialista. O próprio Trotsky afirma que os fatores fundamentais da planificação “nos introduzem na esfera política”, no sentido de que, obviamente, a planificação é um mecanismo que pressupõe valorações que não podem ser puramente “econômicas”, muito menos a democracia socialista como “uma arma dos grupos sociais da sociedade de transição”. Hibridização não significa perda de especificidade: não há nada na política que possa superar uma constrição material (Pierre Naville); portanto, Trotsky teve o cuidado de esclarecer que não poderia se fazer avançar a economia “a chicotadas”. Uma constrição material que só poderia ser superada na ex-URSS com a extensão da revolução internacional no sentido de expandir a base de sustentação da própria economia de transição (ou seja, o caminho oposto ao “socialismo em um só país” ou em “um mictório”, como afirmaria ironicamente Radek antes de sua capitulação).[14]
“Qualquer que seja o ângulo abordado neste primeiro plano quinquenal, ele não poderia nascer de si mesmo senão como um esboço de hipóteses elaborado principalmente para uma reconstrução fundamental no processo de trabalho. Não se pode criar a priori um sistema definido de economia harmônica. A hipótese do plano não poderia conter em si as desproporções velhas nem evitar o desenvolvimento de novas desproporções. A direção centralizada não constitui apenas uma garantia enorme, mas também cria o perigo de falhas centralizadas, ou seja, multiplicadas. Somente uma regulação permanente do plano no processo de sua realização, sua reconstrução, parcial e total, com base na experiência adquirida pode garantir seu caráter econômico efetivo” (Trotsky, 1973:16).
Pode-se afirmar que, paradoxalmente, no que diz respeito à economia da transição, houve uma certa “confluência” de preocupações de posições tão diferentes quanto as de Trotsky e Bukharin sobre o assunto. Bukharin nunca conseguiu superar uma abordagem camponesa e de certo modo liberal, mas, no entanto, como seu principal historiador no Ocidente, Stephen Cohen, estabeleceu décadas atrás, Bukharin mudou sua posição para uma maior compreensão da necessidade de planejamento (vimos isso no volume I desta obra e retornaremos a ele com mais detalhes abaixo): “O grupo de Stalin adotou uma versão extrema do que foi chamado de ‘planejamento teleológico’, um método que afirmava a primazia do esforço voluntário sobre as forças objetivas (…) Os pontos de vista de Bukharin sobre a planificação, estabelecido em 1928-29, eram naturalmente muito diferentes. Primeiro, planejamento econômico significa uso racional de recursos para atingir os objetivos desejados; portanto, o plano deve ser baseado em cálculo científico e estatísticas objetivas e não em ‘fazer o que quisermos’ ou em um ‘acrobático salto mortal’” (Bukharin citado por Cohen em “El marxismo y la transición socialista”, 2024: 235).[15]
Em todo caso, é no Trotsky do início da década de 1930 que encontramos o “resumo” mais consciente, consistente, global e explícito das relações sociais de produção que dizem respeito à transição socialista, pelo menos em países que não são do centro imperialista. A ideia de que a “regulação” da economia de transição diz respeito a planificação, ao mercado e à democracia operária nos parece, de fato, característica de Trotsky.[16] Apenas tardiamente Bukharin chegou a entender – até certo ponto – a necessidade de planejamento e industrialização, e Evgeny Preobrazhensky, um eminente economista da Oposição de Esquerda, viciou sua compreensão e argumentos capitulando ao giro stalinista de 1929/30. Preobrazhensky tornou-se unilateral como resultado de uma falha que já estava inscrita em sua obra fundamental: um ângulo metodologicamente não dialético, positivista. Ele pensou na planificação como a “lei objetiva” da transição e perdeu de vista as determinações políticas da mesma. Coisa que não ocorreu com Trotsky, que logo cedo, como em 1926, se diferenciou do economista soviético (“Notas sobre questões econômicas“, 1926, em “Dialéctica de la transición. Plan, mercado y democracia obrera”, 2010, Izquierda Web). Se Preobrazhensky avaliou corretamente que a lei do valor não era, não poderia ser, o único regulador da transição socialista (não poderia ser o principal regulador porque isso levaria ao restabelecimento do capitalismo, veremos no desenvolvimento do volume dois), dava uma objetividade a planificação que ela não possui: “(…) descartando a regularidade objetiva no processo ampliado de reprodução socialista, tal como ele se desenvolve, apesar de em conflito com a lei do valor, e com proporções definidas (ditadas de fora, com o poder da compulsão) da acumulação do Estado soviético em cada ano econômico particular, excluir este último processo da operação da lei da causalidade mina os fundamentos do determinismo – que é a base da ciência em general” (Preobrajensky, 1965: 4).
É claro que, ao estabelecer a planificação com tal “determinismo”, nada do que aconteceu ao seu redor, os problemas do mercado e, sobretudo, do poder político, poderiam inibir o “comando socialista” da acumulação. Como desenvolveremos em nosso segundo volume, Preobrazhensky estava ciente de que não falar sobre a força de trabalho como mercadoria na transição era uma “aposta no futuro”, mas, de qualquer forma, evitou assim o problema da possibilidade de retomada dos mecanismos de exploração do trabalho, que descartou sob a falsa ideia de que “uma classe não pode explorar a si mesma” (Naville).
Em todo caso, o suposto “automatismo socialista” da planificação é a abordagem objetivista que levou Preobrazhensky intelectualmente a capitular ao stalinismo (não há dúvida sobre isso se seguirmos escrupulosamente sua obra principal, “A Nova Economia)”: “(…) com o objetivo de fazer uma análise científica da economia soviética, em um determinado estágio da pesquisa é necessário abstrair-se da política do Estado soviético e concentrar-se em analisar em sua forma pura as tendências do desenvolvimento da economia estatizada, por um lado, e da economia privada, por outro” (Preobrajensky, 1965:10).
As diferenças de abordagem com Trotsky não podiam ser maiores (além do fato de que, na análise do economista soviético, ficaram relativamente de fora as tendências da revolução internacional, do mercado internacional e suas influências e, em todo, a teoria da revolução permanente!). É por isso que é incompreensível como Ernest Mandel, economista e importante teórico do trotskismo no pós-guerra, assumiu tão acriticamente o esquema pré-obrajenskiano da economia de transição, perdendo de vista em seu economicismo a hibridização das categorias de transição, uma questão metodológica fundamental que temos relatado em nossa obra. [17]
Paradoxalmente, apesar de suas posições anti-planificação na década de 1920, camponeisistas e oportunistas, Bukharin entendia melhor do que Preobrazhensky a sobreposição, na economia da transição, entre o Estado e a economia, entre a política e economia. Para apoiar a ideia de uma suposta “lei objetiva de planificação”, Preobrajensky critica Bukharin – erroneamente – a esse respeito: “Afirmações de que, quando analisamos a economia capitalista, estamos lidando com uma superestrutura que não é ‘parte integrante das relações de produção, cujo estudo é objeto da teoria econômica’; sob a economia capitalista o processo se desenvolve espontaneamente, mas na União Soviética a base se funde com a superestrutura na economia de Estado, e no campo da atividade econômica o princípio da planificação gradualmente começa a superar a espontaneidade” (idem, 1965:16). Uma afirmação bukharinista que, tomada em seu sentido estrito, parece-nos, paradoxalmente, apropriada.
O exposto acima é o problema central que cobrirá este segundo volume, acrescentando outros tópicos ligados à exploração do trabalho na ex-URSS, como a análise crítica do movimento stakhanovivista, o problema dos campos de trabalhos forçados (o sistema Gulag), o ângulo ecológico socialista que qualquer elaboração sobre a economia da transição hoje deve ter, oposto ao produtivismo desenfreado do stalinismo, etc. Tentaremos, então, nesta segunda parte de nossa obra, dar conta dos mecanismos materiais que atuaram por trás da degeneração do Estado soviético e dos outros Estados onde o capitalismo foi expropriado, mas onde a transição socialista foi bloqueada. Faremos um esforço para sintetizar o primeiro e o segundo volumes de nossa obra, a fim de alcançar um “todo orgânico”, uma totalidade concreta que não pretende formular nenhuma “lei geral”, senão tirar lições críticas da experiência para as revoluções socialistas que estão por vir.
Bibliografia:
Federico Engels, Dialéctica de la Naturaleza, Editorial Cartago, México, 1983.
Lars T, Lih, O que era bolchevismo?, Haymarket Books, Chicago, 2024.
Marcel van der Linden, Western Marxism and the Soviet Union. A survey of the critical theories and debats since 1917, Historical Materialism,17, Brill, Lieden-Boston, 2007.
J.J. Marie, Cronstadt, fayard, França, 2005.
Eugene Preobrajensky, The new economics, Clarendon Press, Oxford, 1965.
Roberto Sáenz, La dialéctica de la transición socialista. Plan, mercado y democracia obrera, Izquierda Web, 2010.
Massimo Salvadori, “¿El ‘renegado’ Kautsky?”, tradução adaptada do capítulo “The ideological crusade against bolchevism”, en “Karl Kautsky and the socialist revolution, 1880-1938″, jacobinlat.com, septembro 2024.
Catherine Samary, “Plan, marché et démocratie. L’expérience des pays dit socialistes”, Cahiers d’étude et de recherche, Número duplo 7/8, Institut International de Recherche et de Formation, 1988.
Leon Trotsky, Bolchevismo y estalinismo, El Yunque editora, Argentina, 1975.
- O fracasso do Plano Quinquenal, editor Ese, Argentina, 1973.
Notas:
[1] O conceito de dialética da transição é uma homenagem à obra de Engels, A Dialética da Natureza. Ocorre que, se há algo de dialético, é o próprio processo da transição socialista: é, inevitavelmente, um processo em fluxo: “(…) a eterna sucessão “repetida”(aspas nossas) de mundos no tempo infinito é apenas o complemento lógico da coexistência de inumeráveis mundos no espaço infinito, um princípio cuja necessidade foi imposta até mesmo no cérebro ianque anti-teórico de Draper: “A multiplicidade de mundos no espaço infinito leva à concepção de uma sucessão de mundos no tempo infinito’. Aquilo em que a matéria se move é um ciclo eterno (…) um ciclo em que todos os modos finitos de existência da matéria (…) são igualmente transitórios, e em que nada é eterno, exceto a matéria em movimento eterno, em eterna mudança, e as leis segundo as quais ela se move e muda” (Engels: 1983:40). Em toda a nossa obra, salvo indicação em contrário, o negrito é nosso. [2] Para uma abordagem classificatória, ver Western Marxism and the Soviet Union. A survey of critical theories and debates since 1917, Marcel van der Linden, Historical Materialism, 17, Brill, 2007, texto que citaremos em nosso volume II porque interessa, precisamente, ao campo da classificação (campo que fornece pedagogia, embora não substitua a análise plástica de nosso objeto de estudo: as sociedades de transição ao socialismo). [3] Um exemplo da lógica autonomista anti-partido pode ser encontrado na crítica de Astarita a nós em ” Precisión sobre el programa de Kronstadt ” (ver seu blog), onde ele afirma formalisticamente que os insurgentes não levantaram a palavra de ordem de “sovietes sem partidos”, isso contra todas as evidências históricas. J.J. Marie, em sua valiosa obra Kronstadt ele afirma exatamente o contrário: “A resolução votada será frequentemente resumida pela consigna: ‘sovietes sem comunistas’, que apareceu pela primeira vez em um motim de fome em Moursmansk … em maio de 1918 e retomado em numerosas revoltas camponesas. Esta palavra de ordem não apareceu na resolução, mas o desenvolvimento da mesma irá nessa direção” (Marie, 2005: 141). [4] O fato de que revolução e a contra-revolução estejam unidas por um “fio de necessidade” não significa que uma se separe da outra: como ação e reação, uma pressupõe a outra. E isso por razões muito materiais: porque qualquer tentativa de transformação social, de revolução, de nova fundação, se opõe à resistência dos materiais, a um corpo social marcado não apenas por tendências revolucionárias, mas pelo conservadorismo da inércia histórica. Trotsky refletiu muito sobre isso na década de 1930 e era lógico que assim fosse, porque foram anos de reação. [5] No entanto, a elaboração marxista não funciona de acordo com as regras do “novismo”, mas com outras mais materialistas: uma elaboração marxista não dá um alto mortal em relação à elaboração anterior, nem salto para trás como faz a ortodoxia, o doutrinarismo. Tente dar um passo crítico à frente, mas sobre os ombros de nossos professores; uma linha crítica de continuidade e superação dialética da elaboração anterior (o aufhebung de Hegel, a superar conservando), é claro em correlação com a realidade: “Uma das principais características do bolchevismo é sua posição inflexível e ainda minuciosa diante dos problemas doutrinários. Os 27 volumes de Lenin sempre permanecerão como um exemplo de uma atitude muito escrupulosa em relação à teoria” (Trotsky, 1975: 26). [6] A primeira obra de Lih, que não conhecíamos e não lemos, intitula-se, precisamente, Bread and authority in Russia, 1914-1921 (1990). [7] É perceptível que desde o início de sua reflexão Trotsky estava bem ciente dos limites que a conquista da propriedade estatizada tinha, por si só, no que diz respeito da valorização da melhoria de suas condições de vida pelas massas: isso não poderia ser algo formal, mas real (Trotsky repetirá esse argumento em A Revolução Traída, nos capítulos decisivos IX e XI).
A esse respeito, nosso amigo Nicolás González Varela comete o erro de atribuir a Trotsky coisas que não são reais (avaliadas sob o contraste dos mesmos estudos de Lih que acabamos de citar): “Em 1925, a Oposição de Esquerda, que ecoava o crescente descontentamento proletário em contraste com a atitude desdenhosa de 1923″ (” Gramsci y el Marx desconocido “, VII Izquierda Web). Nicolau esquece que, em outubro daquele último ano, conhecidos líderes do CC bolchevique aliados a Trotsky apresentaram a famosa “Plataforma dos 46”, que marcava o início da divisão da direção do partido e a luta contra a burocracia em sua forma mais sistemática e aguda (ou seja, o próprio nascimento da Oposição de Esquerda, a mais forte corrente anti-stalinista conhecida não apenas na Rússia, mas world wide).
Nicolás comete o erro de subir com armas e bagagens no “nuevismo”, semque saiba muito sobre desde que marco conceitual realiza essa operação.
[8] Lih insiste e insiste na filiação de Lenin com Kautsky, mas em seus textos Marx e Engels parecem não existir (pelo menos os que pudemos estudar até o momento) … Até onde sabemos, Lenin dedicou textos profundos a Marx (o panfleto para o Dicionário Enciclopédico Granat Russo, “Karl Marx”, 1914; O Estado e a Revolução, uma obra inacabada de 1917, escrupulosamente baseada em Marx e Engels) e Hegel (as Notas sobre a Ciência da Lógica de Hegel, 1914, publicada depois de sua morte), mas nenhuma para Kautsky. A menos que consideremos “A Revolução Proletária e o Renegado Kautsky” que, obviamente, não era um texto de estudo do marxista reformista alemão, mas uma dura polêmica. É claro que Lênin cita muito Kautsky, mas é bem diferente dizer que ele dedicou estudos específicos a ele, pelo menos não na escala daqueles que dedicou a Marx, Hegel e Engels, que é o nosso argumento. [9] Há muita discussão no marxismo sobre o valor deste caderno de apontamentos leninistas. Nossa posição firme é que isso significou uma superação categórica da estrutura filosófica anterior de Lenin (contamos com essa afirmação, além de nossa própria sensibilidade, em Dunayevskaya, John Rees, Kevin Anderson, Statis Kouvelakis e outros autores). Uma superação que não significou, obviamente, abandonar o quadro filosófico materialista de “Materialismo e empiriocriticismo”, mas significava dar brilhantismo dialético e transformador ao seu marxismo. O lado ativo do sujeito na formação da realidade, que não aparecia em sua obra de 1908, agora aparece em todo o seu esplendor: “a ideia não apenas reflete a realidade, mas a cria“, afirma Lênin nos Cadernos. [10] Como tem sido habitualmente apontado, não é possível saber se, depois de ser libertada da prisão em novembro de 1918 e antes de ser assassinada em janeiro de 1919, Rosa manteve as posições expressas naquele panfleto. Isso está além do “método” geral expresso nele, que supomos que Rosa teria mantido: a abordagem crítica geral da experiência bolchevique como se aborda qualquer outra experiência do marxismo (uma abordagem crítica defensiva, deve-se acrescentar). [11] Nossa “operação” teórica nesta obra é a indicada: superar o mecanismo usual – um beco sem saída – onde “o cachorro morde o seu rabo” e fazer uma abertura da experiência pós-capitalista e da reflexão de nossos professores do marxismo revolucionário sob o contraste da reflexão de nossos professores do marxismo clássico, operação que concebemos como uma universalização da reflexão sobre o tema das sociedades pós-capitalistas. István Mészáros havia tentado isso em Além do Capital, embora – acima de tudo – com base na abordagem crítica do pensamento de George Lukács, seu mestre filosófico.
Nossa ambição, que buscamos alcançar, é realizar uma espécie de “revisão” de todo o marxismo do século XX sob o ângulo do balanço do stalinismo, ancorando essa reflexão e essa experiência em nossos clássicos, Marx e Engels, como temos dito.
[12] Nossa afirmação teria que ser verificada na multidão de “artigos” de Trotsky, mas pelo menos não nos lembramos de que essa abordagem esteja incluída, por exemplo, em uma grande obra do grande revolucionário como A Revolução Traída, seu principal esforço interpretativo sobre a involução da ex-URSS. [13] Mais abaixo, veremos que Che Guevara, em seu debate sobre a gestão econômica de Cuba na década de 1960, também não conseguiu entender essa combinação de reguladores. Diante da pressão conservadora-oportunista-reformista que vinha da ex-URSS em direção à apelação aos mecanismos de mercado como solução para os problemas da economia de comando burocrático, Che se opôs mecanicamente a planificação per se. Essa posição, perdendo de vista a democracia operária, foi apoiada acriticamente por Ernest Mandel. Por sua vez, o economista stalinista francês Charles Bethelheim inicialmente apoiou o ponto de vista conservador dos economistas da ex-URSS, para depois se voltar para um maoísmo subjetivista. Voltaremos a esse problema no desenvolvimento deste segundo volume. [14] Radek é um personagem particularmente sinuoso do bolchevismo que nos parece ter sido pouco estudado. Sua capitulação ao stalinismo foi realizada de formas tão desagradáveis que só causaram rejeição. Mas, ao contrário da capitulação de outros personagens como Preobrazhensky, as causas dos “princípios”, isto é, em relação à lógica política da qual vinha, não estão claras (talvez não seja nada mais do que “boêmia”, do qual Radek parece ter sido um mestre: recebia os militantes em sua própria cama; ou talvez tenha sido sua rejeição à teoria da revolução permanente de Trotsky, como expressou no caso da China). [15] A arquiconhecida obra de referência de Cohen é “Bukharin e a Revolução Socialista”, 1976. O sovietólogo Lars T. Lih é discípulo de Cohen. Voltaremos à obra de Lih mais abaixo. Trotsky assinalou algo semelhante, embora mais determinado e com mais profundidade (algo que Cohen menospreza; sua biografia de Bukharin afirma um ridículo desrespeito pelo papel de Trotsky na luta anti-stalinista): “O plano se verificrá e, em grande medida, se realizará por intermédio do mercado. A regularização do mercado deve se basear nas tendências que nele se manifestam todos os dias. As agências [da planificação] … devem demonstrar sua compreensão econômica por meio do cálculo comercial. O sistema de economia de transição não pode ser enfocado sem o controle do rublo. Isso exige, portanto, que o rublo seja igual ao seu valor. Sem a firmeza da unidade monetária, o cálculo comercial serve apenas para aumentar o caos” (Trotsky, 1973: 62). E arrematando, acrescenta a respeito da democracia socialista: “Ao mesmo tempo, a ossificação (…) dos sindicatos, dos sovietes e do partido foram ganhando terreno (…) Desta forma, chegou-se à liquidação do mecanismo fundamental da construção socialista, o sistema flexível e elástico da democracia soviética” (Trotsky, 1973: 69). [16] Catherine Samary, economista da corrente mandelita e especialista na ex-Iugoslávia, desenvolveu esse problema em polêmica com o próprio Mandel em um conhecido panfleto do final dos anos 1980: “Plan, marche et democratie. L’ experience de pays dit socialistes”, 1988. No entanto, não temos conhecimento de uma obra mais ambiciosa da autora sobre o assunto (talvez nossas raízes no Sul global sejam a fonte dessa falta de conhecimento). [17] E não apenas Mandel; grande parte do marxismo revolucionário neste século XXI continua a assumir acriticamente o legado econômico de Preobrazhensky em relação à economia da transição socialista.
Ilustração: Lenin en el Paraíso, Vladimir Vasilkovsky, 1973.
Tradução: José Roberto Silva de El debate sobre la economía planificada