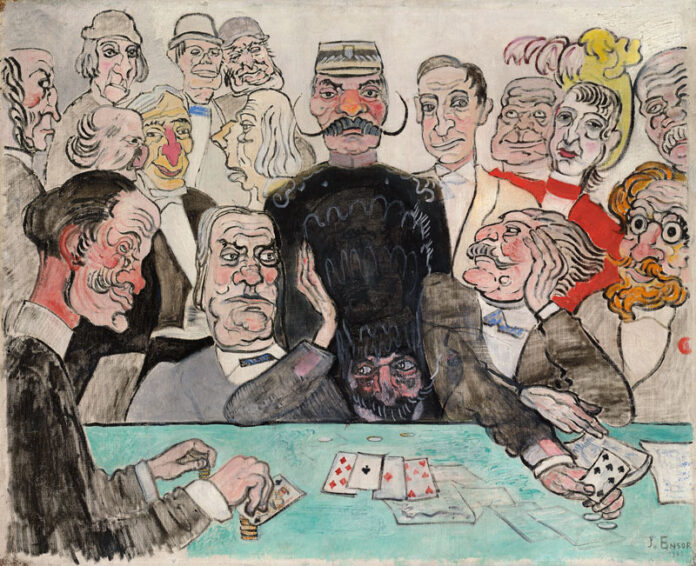“Apesar de que a vanguarda da classe trabalhadora conhecia em teoria que o poder é o pai do direito, seu pensamento político foi completamente conquistado pelo espírito do oportunismo e da adaptação ao legalismo burguês. Agora eles aprendem, pela lição dos fatos, a desprezar esse legalismo e a anulá-lo. Agora as forças dinâmicas estão substituindo as forças estáticas em sua psicologia. Os grandes canhões estão martelando em sua cabeça a ideia de que, se é impossível alcançar em redor um objetivo, é possível destroçá-lo; assim, toda a população adulta está passando por esta escola de guerra tão terrível em seu realismo, uma escola que está formando um novo tipo humano. Uma necessidade de ferro sacode agora com seu punho todos os governantes da sociedade burguesa, suas leis, sua moralidade, sua religião. “A necessidade não conhece leis”, dizia o chanceler alemão em 4 de agosto [de 1914, quando o II Reich alemão lançou a Primeira Guerra Mundial]”
(Trotsky, 1973, p. 103/4. Em inglês, a frase é “Might is right”: o poder faz o direito).
Nós, revolucionários marxistas, não temos razão para desesperar. A época na qual agora estamos entrando será a nossa época. O marxismo não está derrotado. Ao contrário, o estampido do canhão em cada parte da Europa proclama a vitória teórica do marxismo. O que resta agora das esperanças de um desenvolvimento “pacífico”, por meio da mitigação dos contrastes da classe capitalista, de um aumento regular e sistemático rumo ao socialismo?
(Trotsky, idem)
Apresentamos a seguir [1] o informe editado sobre a situação internacional da Conferência de meio de ano da Corrente Internacional Socialismo ou Barbárie, com a participação por Zoom de delegações de vários países, e justamente após o retorno da delegação de nossa corrente que viajou a Los Angeles para encaminhar os preparativos do II Congresso Mundial de Trabalhadores de Aplicativos, a realizar-se naquela cidade em abril de 2026.
Uma constante no último período, que se agravou com o segundo mandato de Trump – muito mais disruptivo que o primeiro –, é que a conjuntura internacional está sobredeterminada pela geopolítica, pelas relações entre Estados.
1 – Quando manda a geopolítica
A análise marxista da conjuntura mundial combina três aspectos. Um é a análise material dos desenvolvimentos, da economia e da ecologia (o exame das relações metabólicas com a natureza foi incorporado como essencial no último período); outro são as relações entre Estados, a geopolítica; e o terceiro aspecto é a relação entre as classes sociais, a luta de classes. Este é o clássico em Trotsky (e em Lenin): os elementos que devem ser combinados para analisar a conjuntura internacional.[2]
Cada conjuntura tem uma combinação distinta entre esses elementos. Às vezes, o determinante é a economia, como na crise de 2008. Em outro momento, pode ser a luta de classes, quando há revoluções ou ondas de rebeliões populares. Em outros casos, como vem ocorrendo há bastante tempo, o fator desestabilizador é a geopolítica.
É bastante evidente que neste momento o fator mais desestabilizador é a modificação, a crise, o desmonte do status quo internacional vigente desde a Segunda Guerra Mundial, e não apenas desde os anos oitenta. Durante quase 80 anos os EUA foram a principal potência mundial, e hoje isso está em crise apesar das constantes bravatas de Trump. As relações de forças entre Estados, consagradas a sangue e fogo em duas guerras mundiais, com milhões de mortos – no campo das relações físicas entre Estados e, de maneira subordinada, também entre as classes – tendem a dissolver-se. Entramos em um mundo no qual as relações de forças entre Estados estão em plena modificação: o “mundo da poli crise”, dito de forma descritiva.
O fato de que as relações entre Estados se desestabilizaram, e de que estamos em um momento não de hegemonia nem de estabilidade, mas de polarização e relações de força nuas, de “violência discricionária” (Tooze), marca os traços do governo de Trump e de outros elementos da conjuntura. A economia está sobredeterminada pela política dos Estados, e a situação mundial está dominada pela geopolítica. Neste instante, não manda a economia nem a luta de classes: mandam as relações entre Estados.
É isso que permite compreender que Trump seja o primeiro elemento de análise da conjuntura internacional; e também o primeiro fator de desestabilização (ver nosso texto “Seis meses de Trump. Um caos sem ordem à vista”, Esquerda Web). Do ponto de vista marxista, não se trata tanto dos atributos que Trump imprime à dinâmica da conjuntura, mas dos que a conjuntura mundial e a etapa imprimem a Trump. Trump expressa, em sua personalidade egocêntrica e em seus traços autoritários, a passagem de uma ordem consensual hegemônica a uma “disputa de capangas” pelo repartimento do mundo. (Um mundo de “esferas de influência” geopolíticas em oposição à ordem globalizadora; a globalização é “sem fronteiras”, é “internacionalista”; o mundo das esferas de influência marca o retorno da lógica de um Estado contra o outro: “meu Estado primeiro”.)
Nestes últimos dias, a novidade se deslocou da Palestina – que constitui um evento contrarrevolucionário da luta de classes mundial – para os encontros em torno da situação na Ucrânia, como expressão de algo que vai além dessas “cúpulas”: o fato de que a ordem mundial está em fluxo, em crise, e tende a redesenhar-se um novo ordenamento mundial que ainda não tem forma, e que não se sabe se poderá adquiri-la sem antes passar por um choque de forças materiais. Dito concretamente: guerras de maior intensidade.
É nesse último sentido que predomina um “caos sem ordem à vista”, no qual a ordem anterior está em completa crise e não se sabe que novo ordenamento virá. (É significativo que a “ordem hitlerista” tenha se chamado Nova Ordem; não mencionamos isso por acreditar que estejamos ingressando em um “hitlerismo” – afirmação que seria completamente unilateral –, mas porque a expressão “ordem mundial”, embora superestrutural, remete, no entanto, a um novo ordenamento material de relações econômico-políticas e sociais; em última instância, determinadas relações de forças.)
Como será esse novo ordenamento internacional, que, embora apareça – e de fato seja – como uma categoria superestrutural, como uma “mera” relação entre Estados, não deixa de ser uma expressão indireta da economia e da luta de classes? Trata-se de uma questão em aberto que, como já assinalamos muitas vezes, dificilmente se resolva sem sangue. Em um mundo capitalista, no qual continuam existindo Estados e fronteiras nacionais que a globalização não superou (nem poderia superar, porque o capitalismo não significa apenas empresas em competição, mas também Estados em competição, como dizia Lenin), há uma hierarquia de Estados dominantes e dominados, para dizê-lo claramente. E qual é a hierarquia de Estados no século XXI?
É preciso ter presente que o capitalismo é sinônimo da chegada à história dos Estados nacionais, da forma Estado-nação, superando a fragmentação que o feudalismo havia deixado na Europa. É falsa a afirmação de que os capitalistas não têm nenhum enraizamento nacional, para além do caráter multinacional e globalizado das empresas capitalistas dominantes. Daí que a contradição entre fronteiras nacionais e mercado mundial não possa ser superada de maneira consequente sob o capitalismo, e que a «sístole» e «diástole» entre a globalização e o retorno do nacional seja um traço característico da dinâmica histórica do capitalismo.
Ao mesmo tempo, a hierarquia de nações inclui as imperialistas, as sub-imperialistas regionais, as dependentes, as semicoloniais, as nações independentes que conseguem emancipar-se realmente do domínio imperialista etc., combinando traços econômicos e políticos em proporções diversas em cada caso. Trata-se de uma estrutura hierárquica de nações dentro do sistema mundial de Estados e do mercado mundial, e que possui escassa flexibilidade: ainda que com o tempo vá variando, essas variações costumam ocorrer com algum grau de sangue.
Enquanto o capitalismo não puder superar as fronteiras nacionais do ponto de vista da formação dos Estados-nação (e não pode superá-las porque o capitalismo não pode simplesmente “arquivar” o Estado-nação, tanto uma conquista quanto um limite intransponível da revolução burguesa), essa hierarquia se resolve por bem ou por mal.[3]
O que se encenou no encontro do Alasca entre Trump e Putin e nos subsequentes – para além da guerra da Ucrânia e com um grande ausente que joga em silêncio, que é a China – é qual será a hierarquia dos Estados imperialistas no século XXI: a reabertura do “Grande Jogo” (assim se chamou o repartimento do mundo entre potências depois das guerras mundiais).
O maior fator de desestabilização do equilíbrio mundial hoje é a geopolítica, e conquistar um novo equilíbrio vai custar sangue, suor e lágrimas. O equilíbrio mundial é um conceito que Trotsky utiliza em sua análise, e é um conceito dialético e instável. Um certo “equilíbrio” de forças se arma apenas para se desarmar depois. O aspecto revolucionário do conceito é, evidentemente, o do desequilíbrio, quando as coisas ficam “fora de lugar” e isso abre as portas para os conflitos, as crises, as guerras, as revoluções ou as contrarrevoluções. O concreto é que hoje, em nível mundial, nada está em seu lugar. O que se vive é, precisamente, um momento de desequilíbrio, de rupturas e disrupção, de “violência discricionária”, porque aquilo que funda uma “nova legalidade” é da ordem do extralegal: “O fato é que já no direito de resistência, já no Estado de exceção, o que está em questão, em suma, é o problema do significado jurídico de uma esfera da ação em si mesma extrajurídica” (Agamben, 2014: 41).
Geopoliticamente, e também no plano econômico, da luta de classes e da relação da humanidade com a natureza, as coisas estão crescentemente fora de lugar (a dinâmica é para a desordem, não para a ordem). E são essas relações materiais que estão fora de lugar as que se expressam no formal, no superestrutural, como “desordem mundial”, como “poli crise”, onde nada está onde deveria. E onde o sangue começa a chegar ao rio, como em Gaza, como na Ucrânia, lista que pode ampliar-se em breve.
Gaza, além disso, é outra coisa: não é apenas geopolítica, e nem sequer “propriamente geopolítica”: é uma guerra civil contrarrevolucionária como há décadas não se via. Não é uma guerra qualquer, porque há uma grande desigualdade entre os lados em conflito; é uma guerra civil contrarrevolucionária no sentido de um movimento contrarrevolucionário contra um movimento de emancipação nacional, que é o movimento-povo palestino (independentemente de sua direção).
Como digressão, podemos afirmar que o caso da Palestina é o retorno da luta pela emancipação nacional em sua expressão mais extrema. Traz à memória a guerra de independência da Argélia (final dos anos 1950) ou a guerra do Vietnã (anos 1960), embora aqui a palavra “guerra” seja redutora: na realidade, estamos diante de uma luta nacional emancipatória frente à qual o Estado sionista deu uma resposta abertamente contrarrevolucionária, simplesmente genocida, de extermínio.[4]
Voltando à conjuntura: o governo de Trump é um produto da desestabilização do velho equilíbrio internacional. Por isso todo o debate sobre sua racionalidade ou irracionalidade. No fundo, ele tem sua “racionalidade voluntarista”, como já dissemos, que pode ser acertada ou errada para a estratégia dos EUA de reafirmar sua hegemonia, mas se assenta nas debilitadas condições em que os EUA se encontram quanto ao sistema hierarquizado de Estados, que é o capitalismo imperialista que domina o mundo – ainda que com as evidentes modificações dos últimos anos, a ascensão da China e, em certo sentido, da Rússia, a novas potências imperialistas.[5]
Em primeiro lugar, há uma racionalidade na modificação do tipo de imperialismo: ao imperialismo da globalização se impôs outro tipo de imperialismo, o da territorialização. Ao capitalismo do mais-valor relativo se impôs outra lógica, para dizê-lo de maneira clara: a do mais-valor absoluto. Ao capitalismo da acumulação especificamente capitalista (isto é, sem elementos extraeconômicos) se impõe, ou se acrescenta, a «acumulação primitiva» (a acumulação por meios violentos, por exemplo, pela apropriação de territórios, como diria Marx em sua teoria da renda agrária e minerária, de porções da atmosfera e até mesmo do cosmos). Ao capitalismo da exploração acrescenta-se o da espoliação, dos recursos naturais e dos seres humanos. (O geógrafo marxista David Harvey conceituou a ideia de acumulação por despossessão, conceito que nesta nova etapa mundial de desestabilização geopolítica e crise da globalização adquire enorme centralidade.)
Na realidade, os métodos de acumulação especificamente capitalista e os extraeconômicos convivem em toda a história real do capitalismo; apenas neste momento específico os segundos adquirem maior relevância relativa do que nas décadas de ouro da globalização: “Eu prefiro identificar dois tipos de capitalismo. Há um capitalismo que é compatível com o liberalismo (…) é a época que muitos de nós vivemos, dos trintões aos setentões. E depois há o capitalismo às vezes chamado de mercantilista, que eu chamo de capitalismo “finito”. Refere-se a um mundo no qual as elites acreditam que o bolo não pode crescer mais. A partir daí, a única forma de preservar ou melhorar sua posição, na ausência de um sistema alternativo, passa a ser a pilhagem. Esta é a era na qual creio que estamos entrando” (entrevista com Arnaud Orain: “É evidente que o ‘capitalismo da finitude’ não precisa de democracia”).
Esses são traços importantes para compreender a mudança de um imperialismo desterritorializado, onde a economia comandava sobre a política, para um imperialismo territorializado, no qual a política volta aos seus foros e incorpora elementos extraeconômicos à economia. O repartimento da Ucrânia, a ocupação de Gaza, o Canal do Panamá, a Groenlândia, o Canadá – tudo isso são formas extraeconômicas de acaparar recursos econômicos, que remetem a outras etapas do imperialismo das quais nossas gerações já não tinham lembrança, e que implicam, além disso, regimes políticos distintos.
Basta remeter-se ao capítulo XXIV de O capital, “A chamada acumulação primitiva”, para encontrar exemplos claros do que estamos afirmando, com o acréscimo de que a acumulação primitiva e a especificamente capitalista convivem, repetimos, em todo modo de produção capitalista-imperialista concreto, apenas em proporções variáveis segundo as etapas:“A espoliação dos bens eclesiásticos, a alienação fraudulenta das terras públicas, o roubo da propriedade comunal, a transformação usurpatória – praticada com o terrorismo mais impiedoso – da propriedade feudal e clânica em propriedade privada moderna foram outros tantos métodos idílicos da acumulação primitiva” (O capital, tomo III: 1981: 217/8).
E no mesmo sentido Trotsky, a respeito da época imperialista “tradicional”: “O desenvolvimento futuro da economia mundial sobre a base capitalista significa uma luta sem trégua por novos campos de exploração capitalista, os quais devem ser obtidos de uma mesma fonte: a terra. A rivalidade econômica, sob a bandeira do militarismo, é acompanhada pelo roubo e pela destruição, que violam os princípios mais elementares da economia humana. A produção mundial se subleva não somente contra a confusão produzida pelas divisões nacionais e estatais, mas também contra a organização econômica capitalista, convertida hoje em um grande caos de desorganização” (Trotsky, 1973: 6).
2 – O novo-velho imperialismo
O outro elemento importante é que a base material dessa modificação é o relativo estancamento da economia mundial nas últimas décadas, inclusive desde antes da crise de 2008, que não cresce em um ritmo que permita que as relações entre Estados e entre economias sejam complementares e não competitivas.[6] O capitalismo sempre é competitivo, mas, para dizê-lo de forma vulgar, “o bolo ficou pequeno” e há candidatos demais para dividi-lo.
O imperialismo “nu”, ou o retorno de formas de acumulação capitalista primitivas, expressa a busca, pela via militar-política, de ganhos que não podem ser obtidos pela via especificamente econômica.[7] Tradicionalmente, quando se pensava nos impérios, era precisamente nesse sentido: a mais crua rapina militar.
Hannah Arendt desenvolve em suas obras este velho-novo conceito de imperialismo, o da rapina territorial-colonial:“’A expansão é tudo’, dizia Cecil Rhodes, e se afundava no desespero porque a cada noite via sobre sua cabeça ‘essas estrelas…, esses vastos mundos aos quais nunca poderemos chegar. Se pudesse, anexaria os planetas’. Ele havia descoberto o princípio motor da nova era imperialista” (Arendt, 2014: 212).[8]
Arendt acrescenta que, em menos de duas décadas, no final do século XIX, as possessões coloniais britânicas aumentaram em 4,5 milhões de milhas quadradas e em 66 milhões de habitantes; a nação francesa ganhou 3,5 milhões de milhas quadradas e 26 milhões de pessoas; os alemães conseguiram um novo império de um milhão de milhas quadradas e 13 milhões de nativos; e os belgas, através do rei, adquiriram 900 mil milhas quadradas com uma população de 8,5 milhões de habitantes. E Arendt não assinala aqui que, para a mesma época, McKinley, o ídolo de Trump, apropriava-se dos últimos despojos do império espanhol: subjugava Cuba, apoderava-se das Filipinas etc.
Essa é a lógica que está na cabeça trumpista, a mesma que na de Putin e, de maneira mais mediada – embora não menos resoluta, porque tende a transformar-se na principal potência econômica mundial – na de Xi Jinping… se olharmos para Taiwan.[9]
Esse elemento, o do capitalismo da finitude, em nossas palavras é o da crise do “momento Rosa Luxemburgo”, que teve seu auge nos anos 1990, com a expansão da exploração direta do mais-valor para um terço do globo onde o capitalismo havia sido expropriado.[10] Pode-se datar, eventualmente, a partir de 2008, ou a partir da perda dos ganhos obtidos com a valorização do capital que significou a restauração capitalista na China e na Rússia e com a retirada de conquistas operárias – em salário direto e indireto – obtidas no segundo pós-guerra, inaugurando novas formas de exploração do trabalho como o trabalho por aplicativo, a uberização, a IA na produção etc. Formas que apelam, contraditoriamente, não essencialmente a um incremento do mais-valor relativo (ao menos não por agora), mas ao puro e duro incremento do mais-valor absoluto. (Por ora, mais que ganhos de produtividade, o que estamos vendo é um aumento absoluto da superexploração do trabalho mundial, cada vez mais precarizado.)
É importante saber combinar a relação entre Estados e suas crises com o elemento material que funda a ordem, que é a economia: os mecanismos de espoliação com os de exploração. Pois, obviamente, seguimos no capitalismo: a exploração capitalista, as cadeias de suprimentos que sofrem disfunções e relocalizações, mas se mantêm, etc., são a base de um sistema de relações de exploração às quais agora se adoçam as renovadas relações de espoliação, que em definitivo são o especificamente novo na reterritorialização do imperialismo.
Conceitualmente, é preciso entender que, como o próprio conceito de imperialismo unifica em si mesmo ambas as dimensões – a da exploração capitalista e a da espoliação dos povos e nações –, não se deve perder de vista que a base material de todas as relações sob o capitalismo não está na violência nua, mas na exploração do trabalho assalariado. É a crítica de Marx à definição de Proudhon sobre a propriedade capitalista, equivocada porque expressava uma apreciação pré-capitalista: “a propriedade é um roubo”; ao que Marx replicava que, para roubar algo… primeiro é preciso que tenha sido criado (fabricado).
Logicamente, muitas coisas já estão “fabricadas”, como a geografia, a natureza, razão pela qual a lógica colonial é a apropriação de territórios. Mas um sistema econômico-social, seja qual for, não pode se fundar no mero roubo. Daí a necessidade de saber combinar, em cada momento histórico determinado, as proporções relativas entre o conceito especificamente capitalista da exploração e da propriedade (econômico) e o conceito especificamente imperialista (extraeconômico).[11]
O crescimento da extrema-direita, em vez de ser inclusivo, é excludente; passa-se da inclusividade, da universalidade, ao “nativismo”, à exclusão, fragmentação, estratificação, segmentação: exploração somada à opressão. Isso se expressa, política e geopoliticamente, na ofensiva reacionária que vemos no mundo, a longa conjuntura reacionária, à qual preferimos continuar chamando “conjuntura” e não etapa, para não perder de vista os equilíbrios, suas contradições, sua reversibilidade, a polarização assimétrica de que viemos falando na corrente: “(…) o fator mais poderoso para a produção de riqueza e cultura é a divisão mundial do trabalho, que tem suas raízes nas condições naturais e históricas do desenvolvimento da humanidade. Agora resulta que o intercâmbio mundial é a fonte de todas as desgraças e de todos os perigos. Voltemos para casa! De volta ao lar nacional! (…) Não se chegará à solução desse problema [Trotsky refere-se aqui à problemática da unificação europeia] deificando a nação, mas, ao contrário, liberando completamente as forças produtivas dos freios que lhes impõe o Estado nacional. Mas as classes dominantes da Europa (…) encaram o problema ao inverso: tentam, pela força, subordinar a economia ao superado Estado-nação. Reproduz-se em grande escala a lenda do leito de Procusto. Em vez de deixar amplo espaço à expansão da tecnologia moderna, os governantes destroem o organismo vivo da economia (…) salvar a economia inculcando-lhe o vírus extraído do cadáver do nacionalismo produz esse veneno sangrento que leva o nome de fascismo” (O nacionalismo e a economia, 1933).
Polarização e hegemonia são conceitos distintos. Na hegemonia, todo mundo entra. Se tomarmos como modelo de hegemonia a década de 1990, todo o mundo era capitalista neoliberal: Rússia e China caminhavam para a restauração capitalista; no Ocidente e além havia neoliberalismo somado à democracia burguesa; com exploração e superexploração, com retirada de conquistas, todos entravam na ordem hegemônica. Era um mundo de estabilidade: como dizia Lenin, a democracia burguesa é a forma mais estável de dominação capitalista.
O mundo em que estamos hoje já não tem, e tende cada vez mais a não ter, nada a ver com isso. Na polarização, “maquinalmente”, alguns entram e outros não. A polarização não é hegemônica, é excludente. A própria polarização cria o bipolo, e exemplo disso é Los Angeles, com as batidas policiais e a resistência do povo latino contra a ICE. A polarização é “ou você se submete, ou eu mato”; e, ao mesmo tempo, “não me submeto, resisto”. A hegemonia é mais cenoura que porrete (o porrete é a virtualidade do poder); a polarização, expressa nos regimes de extrema-direita, é muito mais porrete que cenoura: é o mundo da brutalidade.
A polarização não-hegemônica tem reversibilidade; o movimento do pêndulo da luta de classes apresenta oscilações muito maiores do que estávamos acostumados fora da era dos extremos. Recusamo-nos a falar de “regimes fascistas”, salvo no caso do Estado sionista, porque nos regimes fascistas as relações de forças já estão resolvidas. (E, paradoxalmente, isso não exclui sequer o Estado sionista, onde cresce o repúdio ao governo de Netanyahu.)
Estamos, antes, numa situação transitória de “bonapartismo internacional”; como na definição de Trotsky, o bonapartismo é um regime de relações de forças não resolvidas. Trotsky dizia que as situações transitórias podem degenerar em situações contrarrevolucionárias, ou gerar revoluções: “Se insistimos em distinguir entre bonapartismo e fascismo, não foi por pedantismo teórico. Os termos servem para diferenciar conceitos; por sua vez, os conceitos servem na política para distinguir as forças reais. O esmagamento do fascismo não deixaria resquício algum para o bonapartismo (…) Levadas às suas últimas consequências, a teoria “da via fria” não é melhor que a do social-fascismo, é, mais precisamente, a outra face da mesma moeda.
Em ambos os casos ignoram-se completamente as contradições entre os componentes do campo inimigo; confundem-se as etapas sucessivas do processo. O Partido Comunista fica eliminado [isto é, não entra na equação a análise de sua ação ou omissão, exclusão na qual autores como Valerio Arcary, no Brasil, e Jacobinlat são mestres – no caso brasileiro, em relação ao PT]” (Trotsky, 1974: 47).[12]
3 – Conjuntura reacionária e relações de forças
Aqui entra também outro contrapeso, que é a etapa: a interrogação sobre o resultado da desestabilização internacional em curso. O século XXI abriu duas novidades. Uma, por assim dizer, temática: trouxe um conjunto de novas problemáticas, como a questão ecológica ou a pandemia, ou recolocou velhas problemáticas que estavam suspensas — por exemplo, no ano que vem vence o último acordo nuclear e há uma corrida de rearmamento nuclear no mundo. E o século XXI também recolocou, com Gaza, o tema do genocídio. E trouxe de volta a extrema-direita, que também não estava na agenda desde os anos 1980.
Junto com os temas, está a questão das relações de forças, mas não de frente à conjuntura, e sim à etapa. Havíamos dito, e parece confirmado, que se abriu uma nova etapa de crise, guerras, barbárie e revoluções. As revoluções ainda não chegaram, mas estão inscritas na lógica mesma dos acontecimentos, na lógica do movimento pendular da luta de classes; na brusquidão de suas oscilações. O caráter instável da etapa serve para localizar a conjuntura: “Uma conjuntura é um período durante o qual as diferentes contradições sociais, políticas, econômicas e ideológicas que atuam na sociedade se unem para lhe dar uma forma específica e distintiva. Uma conjuntura pode ser longa ou curta: não está definida pelo tempo nem por coisas simples como uma mudança de regime (…). Tal como eu a vejo, a história não é um fluxo evolutivo, mas avança de uma conjuntura a outra. E o que a impulsiona adiante costuma ser uma crise, quando as contradições que sempre estão em jogo em qualquer momento histórico se condensam ou, como dizia Althusser, “se fundem em uma unidade rupturista”. As crises são momentos de mudança potencial, mas a natureza de sua resolução não está determinada [mecanicamente]. Gramsci, que lutou toda a sua vida contra o “economicismo”, foi muito claro a esse respeito. O que ele diz é que nenhuma crise é apenas econômica. Sempre está “sobredeterminada” desde diferentes direções (Adam Tooze, “Trabalhar no terreno pedregoso e contraditório da conjuntura atual. Uma conversa com Hall, Massey e Peck). E Tooze acrescenta algo agudo: “Toda análise tem uma localização. Hall, em meados da década de 1980, falou de “trabalhar no terreno contraditório e pedregoso da conjuntura atual”. Mas além do “terreno pedregoso”, o trabalho de análise implica algum tipo de aposta (ídem), ou seja, é interessado.[13]
E é assim: a definição de etapa é chave para ver a reversibilidade dialética dos desenvolvimentos em curso; uma radicalização à extrema-direita possibilita uma brusca guinada do pêndulo para o outro lado, o que preocupa as formações centristas burguesas; se não fosse assim, não seriam centristas, e a extrema-direita não seria o que é: uma espécie de “aposta extrema da burguesia”, nunca sua aposta principal.[14]
No entanto, e para além da etapa, é importante a definição de que a conjuntura mundial atual é ruim, adversa em termos gerais. Há muito mais radicalidade pela direita do que pela esquerda; pela esquerda tudo segue sendo demasiado “light” (as formações socialdemocratas ou reformistas são insuportavelmente institucionalistas!).[15] O fato de o Estado sionista se definir por exterminar o povo palestino é uma definição extrema, e não por acaso toma essa decisão agora: é um signo do reacionarismo da conjuntura mundial.
O contexto é de desequilíbrio e de tendência a resolver as coisas pela força: as relações entre Estados, a economia por meio dos mecanismos de espoliação, e a luta de classes. A revista The Economist parece, dito de forma exagerada, o Manifesto Comunista. Uma de suas últimas edições esteve quase inteiramente dedicada a explicar que o que o Estado sionista está fazendo em Gaza é um crime contra a humanidade, ilegal em relação à legalidade internacional que se forjou depois da Segunda Guerra Mundial: “Mais uma vez o mundo está entrando em uma era de desordem; as instituições multilaterais fundadas depois da Segunda Guerra Mundial, desde a ONU até os tribunais internacionais encarregados de julgar crimes contra a humanidade, estão perdendo sua autoridade. O destino final da ordem pós-1945 não será conhecido até dentro de determinado tempo” (The Economist, 9-15 de agosto de 2025).
Num ritmo que não é o da primeira era dos extremos, a tendência é ao incremento da instabilidade. Nesse aspecto, o fenômeno Trump aparece como voluntarista; não se opõe a racionalidade ao voluntarismo, pode dar a mão a Putin etc., mas aparece como voluntarista na tentativa de estabilizar o mundo desde cima; de recolocar “Estados Unidos primeiro” em um mundo tão desequilibrado e que tende a aprofundar suas instabilidades por razões estruturais. Trump não tem hoje as bases materiais para transformar seu projeto MAGA em um fato estrutural. Seu orçamento militar é o maior do mundo, 1 trilhão de dólares, seguido pela China com a metade. Também é um fato que o dólar segue sendo a moeda de troca e de reserva mundial, e que os EUA podem emiti-lo “à vontade”, por dizer de modo exagerado. No entanto, seu PIB medido em dólares gira em torno de 26 trilhões, muito similar ao da China. Porém, a China produz hoje cerca de 40% do PIB industrial do mundo, enquanto os EUA estão na metade ou menos dessa cifra (esse dado é tremendo!). Além disso, os EUA ficaram muito atrasados em investimento em infraestrutura, e a competição tecnológica é cabeça a cabeça, nada que possa ser resolvido com a guerra comercial que voltou a desatar, que deixou as tarifas de seu país nos níveis mais altos em cem anos.[16]
Parte dos traços da nova etapa na conjuntura é o genocídio em Gaza. A circunstância configura uma guerra civil contrarrevolucionária. Barbárie e fomes, como entre Tutsis e Hutus em Ruanda (1994), com um milhão de mortos, ainda são endêmicas na África, infelizmente. Mas tratava-se de enfrentamentos “entre tribos”, por assim dizer, não entre Estados reconhecidos internacionalmente.
O caso de Gaza é outra coisa: é o levante do Gueto de Varsóvia em abril-maio de 1943; é a insurreição da cidade de Varsóvia em agosto de 1944 (aplastada pelos nazistas com a cumplicidade de Stalin). Gaza é Verdun e Somme, as duas batalhas mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial, com um milhão de mortos cada (ambas em 1916); é Stalingrado; é Auschwitz. Tem essa profundidade. O que isso expressa? É evidente que não é algo normal no mundo de onde vínhamos.
Também não é o Vietnã: o Vietcong era uma força armada centralizada, que além disso dominava metade do Vietnã, com uma capital, Hanói (o Vietcong se apoderou da metade do país quando da derrota dos japoneses em 1945). A luta do povo palestino é uma luta emancipatória, uma luta por sua autodeterminação nacional que leva décadas; mas, no momento atual, essa luta emancipatória está sendo enfrentada por uma “guerra civil contrarrevolucionária” só comparável aos exemplos que acabamos de citar de barbárie contrarrevolucionária extrema do século passado. O lado de Gaza da “equação” aparece nestes momentos mais como vítima do que como combatente (ainda que o povo palestino seja combatente, e esteja voltando a crescer o repúdio e a mobilização internacional contra este extermínio!).
A luta do povo palestino lembra o caso da independência da Argélia, onde houve uma guerra civil revolucionária pela independência, e a FLN (Frente de Libertação Nacional) representava a maioria do povo argelino. Embora não esteja claro que o Hamas represente, neste momento de agudo retrocesso, a maioria do povo palestino, é, de certa forma, uma “organização beligerante” e assim deveria ser reconhecida, não como uma “organização terrorista”, como a definem o sionismo e o imperialismo ianque.[17] Ou seja, neste momento não há um choque entre uma força estatal beligerante e outra paraestatal também beligerante, mas sim um ato de genocídio com forças demasiado desiguais (muitos setores do próprio exército israelense reconhecem isso; que o Hamas perdeu, em enorme medida, sua capacidade operativa militar).[18]
A guerra entre Hutus e Tutsis foi barbárie fratricida; em Gaza há uma contrarrevolução contra um legítimo movimento emancipatório de libertação nacional, por isso a luta palestina é revolucionária, embora totalmente desigual. E o enormemente progressivo movimento de solidariedade internacional está voltando a crescer, mas ainda não tem a radicalização que corresponderia a um “movimento revolucionário”; não chega à radicalidade do movimento contra a guerra no Vietnã, por exemplo. É um movimento mundial com traços internacionalistas que pede a gritos para radicalizar-se e deter a chacina, embora comece a cobrar seu preço dentro do Estado sionista.
Isto é importante para compreender a situação em Gaza como uma luta de classes e não apenas como uma pura barbárie passiva; para inscrevê-la nas relações de forças: se fosse possível reverter a fome e o genocídio em Gaza, seria um elemento qualitativo capaz de mudar radicalmente a conjuntura mundial — ainda que hoje isso seja dificílimo.
Na conjuntura internacional atual, a polarização é muito assimétrica, mas cobra seu preço. Por um lado, o povo de Gaza está sendo destruído, ainda que resista; por outro, Israel perdeu todo o crédito do Holocausto (acabou o Holocausto como “religião laica do Ocidente”, segundo a aguda definição de Traverso!). Em Gaza, vê-se também que a política de Netanyahu é uma ação, por definição, não hegemônica: é polarizadora. Não busca hegemonia, não busca que o mundo siga chorando por Auschwitz; busca massacrar física, cultural e moralmente os palestinos, e que a legitimação venha depois, pela via dos fatos.
Não estávamos acostumados, nas últimas décadas, a que as relações de forças se resolvessem pela força nua; a tendência vinha sendo mais pelas eleições, pelas greves econômicas, embora sem descartar nem as praças nem as rebeliões populares (a história contemporânea da Argentina, por exemplo, não poderia ser entendida sem a queda da ditadura militar e sem o Argentinazo de 2001).
Mas a legalidade, repetimos, é uma ordem derivada; a força funda a legalidade, e não o contrário: “Uma opinião recorrente situa no fundamento do estado de exceção o conceito de necessidade. Um adágio latino com tenacidade repetido (…) necessitas legem non habet, “a necessidade não tem lei”, costuma ser entendido em seus dois sentidos opostos: “a necessidade não reconhece lei alguma” e “a necessidade cria sua própria lei” (nécessité fait loi)” (Agamben, 2014: 62), conceitos que não são tão “opostos” a nosso modo de ver. É a força que funda a lei; é a violência extralegal que funda a ordem legal. Como o próprio Agamben assinala com acuidade: não é a lei que faz a força, mas a força que faz a lei.
Passemos agora ao problema dos regimes políticos, outro aspecto das relações de forças. Não estamos de acordo com a definição de Trump, tão repetida entre marxistas, como “fascismo”. Concordamos em que é um governo de extrema-direita com pouquíssimos antecedentes contemporâneos nos EUA; um governo nos limites da legalidade e que a avassala. Não nos parece que os governos reacionários de Richard Nixon ou Ronald Reagan tenham passado por cima da institucionalidade como o faz Trump: “Tomo como começo a perspectiva de que o trumpismo é a variante norte-americana de um novo autoritarismo, que veio cumprir um papel significativo na política internacional (…) A militarização do Estado se aprofundou com o Ato Patriótico e a criação do Departamento de Segurança Interna, após 11 de setembro de 2001; a criação do ICE em 2003; a expansão massiva da máquina de deportações na era Obama; e, apesar da queda no índice de crimes, a explosão dos orçamentos para a polícia, que passaram de 10,5 bilhões de dólares em 1975 para 233 bilhões de dólares em 2023 [quase um quarto do orçamento militar dos EUA, uma brutalidade!]” (Thomas Hummel, “The Buffon, the Empire, and the Crisis”).
E o autor acrescenta que o pano de fundo é a crise econômica dos EUA, o salto brutal no endividamento do Estado, de 13,64 trilhões de dólares em 2007 para 35,64 trilhões em 2024 (algo em torno de 100% do PIB). Acrescenta ainda que, no restante do mundo desenvolvido, a dívida estatal é a mais alta desde as guerras napoleônicas (o que, se verdadeiro, é outro absurdo, já que as guerras mundiais foram máquinas de criar endividamento estatal). Sinaliza, ao mesmo tempo, um certo transbordamento do regime pela direita (Tea Party) e pela esquerda (Occupy, Black Lives Matter) — o que é muito positivo, pois a maioria dos analistas de esquerda tende a perder de vista… os transbordamentos pela esquerda (a polarização assimétrica!). E acrescenta que: “A entrada de Trump, após oito anos de crise sem resolução, em algo que não parece ter solução (…) é uma situação na qual o único interrogante é como administrar um sistema que de forma crescente está fora de controle” (Hummel, idem). O contrapeso, precisamente, é que nos EUA existe uma sociedade civil abigarrada, e o regime não mudou apesar do bonapartismo do governo (é preciso ter em conta que governo e regime político são categorias distintas). Trump acaba de mandar a Guarda Nacional a Washington (legalmente pode fazê-lo, ainda que seja uma ação de provocação em uma cidade governada pelos democratas).
Mas a delegação de nossa corrente, que acaba de voltar de Los Angeles, afirma que Trump perdeu a primeira batalha contra os migrantes, embora novas batalhas estejam vindo, e que há rejeição entre os próprios eleitores de Trump ao método extremo com que se está atacando os imigrantes.
Aqui ganha relevo a distinção, repetimos, entre governo e regime. Cada regime político expressa determinadas relações de forças; o regime é a expressão institucional dessas relações. Por exemplo: que regime político há no Brasil? Vive-se um tempo marcado pelo fortalecimento da extrema-direita, mas o regime “mudou e não mudou”. Mudou no sentido de que não se está mais diante de um “presidencialismo de coalizão”, como era o caso desde 1988. Embora o jogo institucional entre a presidência, o STF (Supremo Tribunal Federal) e o parlamento esteja aberto, na prática é o parlamento que, neste momento, parece dominar o regime político — um parlamento controlado pelo chamado Centrão, a coalizão de representantes de centro-direita que o controla por ampla maioria, uma espécie de “parlamentarismo reacionário de coalizão”. É significativo que o grau de reacionarismo das instituições varie de acordo com quem esteja à frente do Executivo. Por exemplo, na Argentina de Milei, neste momento, o parlamento está jogando “à esquerda”, enquanto no Brasil de Lula-3 joga à direita.
No entanto, no sentido de ser uma democracia burguesa, de liberdades democráticas, o regime não mudou (embora, novamente, seja mais duro que na Argentina: o Rio de Janeiro é, há anos, uma cidade militarizada; nada semelhante ocorre na Argentina). Em todo caso, será preciso ver como evoluem as coisas com a possível prisão de Bolsonaro e, sobretudo, com a perspectiva de um segundo turno nas eleições do próximo ano, que podem ser novamente decididas por uma margem muito estreita — mas sob a presidência de Trump (já falamos do risco concreto de um golpe de Estado no Brasil no próximo ano, e da cegueira de setores da esquerda que não levantam a consigna de prisão para Bolsonaro).[19]
Na democracia burguesa, que segue imperando precariamente no Ocidente apesar dos bonapartismos, existem três instituições: o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Quem manda entre as três? Isso é variável em cada caso. Mas em todos eles se incorporaram, em maior ou menor grau, elementos bonapartistas. De que dependem estes últimos? Das relações de forças.
Nos EUA, Trump tem a seu favor a presidência, a Suprema Corte, uma maioria mínima em ambas as câmaras; têm contra si o fato de que os EUA são um país muito federal, ainda que tente — e esteja conseguindo, pela omissão dos democratas — subjugar os Estados a partir de cima, Estados que têm muitos atributos.
A questão dos regimes é importante no momento de pensar a política, porque além dos problemas econômico-sociais, estão as tarefas democráticas. E nisso também joga a questão da hegemonia versus polarização. Nos regimes eleitorais, a polarização dificilmente cria maiorias claras como as que ocorrem nas épocas de hegemonia; criam-se maiorias artificiais, com segundo turno, que são mais frágeis que as maiorias hegemônicas.
De todo modo, nestes países existe uma dialética entre governos de extrema-direita e regimes democrático-burgueses que não está resolvida.
Além disso, há vários atores do nosso lado na polarização assimétrica: o movimento de mulheres e LGBT; o movimento pró-Palestina; os hispânicos nos EUA; e um elemento novo no qual nossa corrente está mergulhada até o pescoço: a emergência de uma nova classe trabalhadora.
As ações dessa nova classe operária surgida da uberização do trabalho são de vanguarda, às vezes até de vanguarda de massas, e no Brasil trata-se de um fenômeno objetivo. Na Argentina, o Sitrarepa é a expressão de “extrema-esquerda” dessa experiência. No Brasil, há um fenômeno que vai além da vanguarda. Nos EUA, o dirigente do 721 tem o plano de sindicalizar entre meio milhão e um milhão de trabalhadores da Uber na Califórnia. Se conseguir, o que isso significaria, além de ser a campanha de filiação sindical mais importante da história dos EUA? Ademais, a questão que envolve todo o trabalho por aplicativo é a da inteligência artificial.
Outra questão: o que significa o DSA nos EUA? Realizaram um congresso com 1.500 delegados e declaram ter 90 mil militantes (aparentemente seriam uns 10 mil reais), e há o jovem muçulmano «democrata socialista» vencedor da interna democrata, que é hiper reformista, mas sinaliza o crescimento, nos EUA, de um movimento político e sindical à esquerda dos democratas.
Está também a esquerda argentina, com peso eleitoral e orgânico, hoje o componente mais forte do trotskismo internacional. No Brasil e na França há um processo de refundação da esquerda revolucionária ainda inicial (temos dificuldade de medir no caso da Grã-Bretanha; nossos contatos com o trotskismo ali não nos deram clareza sobre o tema).
Ainda que não possamos escapar da conjuntura internacional adversa (no caso argentino, o signo parece ser o contrário, não da esquerda para a direita, mas neste momento ao menos da direita para a esquerda), ela está cheia de contradições, está aberta; por cima as coisas estão difíceis, mas por baixo o espaço para a corrente é absolutamente imenso.
Por enquanto, os elementos de agressividade são maiores que os de radicalidade; o reinício da experiência histórica vive uma longa etapa de acumulação. A situação mundial exige uma revolução que ainda não chegou. O levante em Los Angeles teve elementos de rebelião popular, uma nova geração entrou em cena, mas não alcançou o nível de uma rebelião aberta; foi mais um levante de vanguarda (ainda não tem a magnitude do Black Lives Matter). Houve muita provocação da ICE com as batidas nos locais de trabalho, e também pedras e carros-patrulha incendiados.
Mas atenção: estamos entrando em um mundo com elementos de guerra civil. A corrente precisa ser disruptiva, sem cair na ultraesquerda e medindo os passos, mas tudo o oposto do rotineirismo. Por exemplo, estendendo bandeiras palestinas em faculdades, pontes, avenidas, ou fazendo “escândalos” nos conselhos municipais, como no Brasil na questão dos entregadores; ações que escapem da institucionalidade, mas sem aparecer como delirantes ou desligadas da experiência real. É preciso ter em mente que o regime democrático-burguês está sendo questionado pela direita mas ainda não desbordado pela esquerda; ao mesmo tempo, é necessário evitar a pressão da rotina e da adaptação que se observa nas correntes do trotskismo urbi et orbi.
O conceito de rebelião popular fica curto, porque a agressão é muito grande; tudo indica que vamos a cenários mais próximos de «guerra civil», embora com o problema de que as direções tradicionais, reformistas e burocráticas, ainda estão aí para mediar todos os processos, para impedir que as massas saiam às ruas. Estão as massas preparadas para isso? Estão a esquerda revolucionária, e a nossa corrente, preparadas para isso? Parece-nos que ainda não. Mas a preparação prática começa pela preparação intelectual, pela consciência, ao menos entre as organizações militantes.
As massas são concretas: se lhes «pinta» a luta com elementos de guerra civil, eles aparecerão. Na Argentina, as massas irritadas com Milei não dizem apenas que é um idiota: elas o odeiam, afirmam que é preciso enforcá-lo na Praça de maio!
Da mesma forma, os momentos de estabilidade eleitoral seguem ocorrendo nos países onde militamos, continuam marcando o calendário e a governabilidade, e não devemos ser sectários. Romper com o roteneirismo para enfrentar as tarefas militantes, práticas e teóricas, não significa em nenhum instante desligar-se da experiência real, que ainda vem muito atrás — essa é a verdade.
4 – “O fio invisível”
Em síntese: cada momento expressa uma combinação de temporalidades e determinações. Nas categorias da análise marxista das relações de forças, combinam-se e contrabalançam-se elementos distintos. Uma coisa é a conjuntura, que tem a ver com como se combinam os fatores neste momento determinado: podemos dizer que estamos na conjuntura Trump-Gaza-Ucrânia, reacionária. Mas a etapa não tem outra forma de ser definida senão pela “combustão”: pela explosividade social que se acumula sob a pressão feroz da extrema-direita!
Estamos numa conjuntura internacional muito adversa; mas seria antidialético, seria de lesa-marxismo perder de vista que, num nível mais profundo, está se gerando uma acumulação de ódio social tremenda; em San Francisco, nossa delegação viu pichações que diziam “Hang Netanyahu”. No meio estão os reformistas que mediatizam, que apostam tudo no institucional, que dizem que é preciso “esperar a próxima eleição presidencial”, que fazem espetáculo apenas nos parlamentos, mas se negam a mover um dedo nas ruas — que fazem o jogo da governabilidade, nada menos que da extrema-direita! Enquanto isso, a extrema-direita é parlamentar e extraparlamentar, e está cada vez mais ousada (na Argentina, repetimos, as coisas parecem caminhar no sentido contrário).
Hoje, a imagem em Gaza é a fome; mas revolução e contrarrevolução estão unidas por um fio invisível. Até agora a fome em Gaza não deu lugar a “bombas extramuros”, mas a caça humana é tão feroz e tão nua que pode gerá-las. Esse grau de provocação, aplicado sobre um corpo social vivo, tem que gerar reação: “Hannah Arendt sublinhou corretamente que a revolução “nos confronta direta e inevitavelmente com o problema do começo” (…) a guerra revolucionou decisivamente a Revolução Francesa em 1792-1794 (…) A guerra civil é a outra forma habitual de violência coletiva que acende as Fúrias da revolução, sobretudo quando se combina com uma guerra externa quase religiosa. Não há melhor guia para o estudo da letal fusão entre guerras externas e civis em tempos de convulsão geral que o discurso de Tucídides sobre a furiosa e brutal selvageria que teve lugar em Córcira (Corfu) durante a guerra do Peloponeso. Seja como for, a violência acoplada à revolução se move para os extremos (…) é, sem dúvida, horrível que os vizinhos de uma comunidade «arrasem a propriedade do outro e manchem seu lar de sangue» (…) Revolução e contrarrevolução estão amarradas uma à outra «assim como a reação está ligada à ação», dando lugar a “uma abordagem histórica que (…) é ao mesmo tempo dialética e movida pela necessidade” (Arno Mayer, 2014: 19-22).[20]
Há um interjogo entre conjuntura reacionária e combustão sociopolítica, entendendo a combustão como o processo pelo qual “algo arde”.
Nisso jogam também as consequências não intencionais, não desejadas, da ação. Nessas semanas há uma pressão sobre o Brasil com as tarifas de Trump para que não prendam Bolsonaro.
Lula se comporta como um “gatinho manhoso” tentando não radicalizar as coisas.[21] Mas quais são as consequências não intencionais de submeter o Brasil a uma pressão imperialista tão direta? Que no Brasil surja um sentimento ausente há décadas, ao menos desde o golpe de 64: o anti-imperialismo, que nunca fez parte do perfil do PT.
É a combinação de ações controladas com consequências incontroláveis que pode fazer “as coisas voarem pelos ares”; é o que abre a dialética entre ação e reação ou, neste caso, de reação (preventiva) e ação: o que chamamos de combustão; os “gases” da ira popular que se acumulam por tanta provocação e podem degradar até o limite a sociedade explorada e oprimida, ou fazê-la explodir com uma raiva indomável.
A ação dentro de uma ordem estabelecida é controlável; sem uma ordem estabelecida, não há controle das consequências. A etapa atua, então, como contrapeso de uma conjuntura adversa: a tendência é à desestabilização, à crise, à combustão.
Estados e economia: esta é uma das contradições da etapa. Paradoxalmente, o capitalismo tem “pátria”; quem não tem pátria é o proletariado, incondicionalmente internacionalista ainda que não o saiba. Mas o capitalismo tem uma contradição, tem dois enraizamentos: o dos capitais e o do Estado (está embebido em ambos os “ecossistemas”). Uma das características de Trump é que a crise que ele expressa, e à qual quer dar resposta, é a que surgiu da desterritorialização extrema dos capitais norte-americanos. Se você desterritorializa tanto o capital e não o funda nacionalmente, o que faz com o Estado? O que faz com as contas nacionais? “As classes dominantes da Europa (…) encaram o problema ao inverso: tentam, pela força, subordinar a economia ao superado Estado nacional (…) A livre concorrência é como uma galinha que chocou, não um patinho, mas um crocodilo [a China!]. Não é de se espantar que não consiga lidar com sua cria!” (brilhante Trotsky como sempre! O nacionalismo e a economia, 1933).
Burguesia e Estado-nação são, até certo ponto, sinônimos, simbióticos.
Caso contrário, não se compreenderiam as crises de hegemonia e as guerras; chegaríamos ao ponto de Imperium, de um capitalismo totalmente desterritorializado, e o imperialismo se acabaria… Essa contradição é a que explode com Trump: o que fazer com os EUA como Estado-nação? Há uma certa fusão entre Estado e capital; os EUA não são, obviamente, um capitalismo de Estado, mas tampouco são um capitalismo sem Estado. O anarcocapitalismo é uma expressão extrema desorganizadora, porque o Estado é a junta que administra os negócios comuns dos capitalistas privados, e conserva funções que o fazem necessário em escala de toda a sociedade (Engels). Tudo isso faz parte do debate clássico sobre o imperialismo (Lenin, Bukhárin, Rosa, Hilferding etc.). Pareceria que no neoliberalismo não há essa fusão, mas sim existe, porque o único desterritorializado, a única superação das fronteiras nacionais, é o comunismo, a abolição do Estado.
O mercado mundial, ainda que globalizado, não supera por completo os Estados nacionais, e essa é uma contradição brutal que explodiu agora: o fato de que os Estados não podem ser superados mecanicamente no marco do capitalismo, onde há um determinado grau de fusão entre Estado e capitais. Essa tendência é o que leva à guerra: não se pode separar completamente o Estado-nação do capital, não se pode desterritorializar o capitalismo.
A burguesia chega ao mundo com o Estado-nação; as fronteiras nacionais chamam à ordem. E o que está acontecendo agora é uma sobreposição da concorrência econômica com a concorrência entre Estados, e isso é o que leva à guerra: os Estados voltam a impor seus direitos.
O “caos” não vem do fato de Trump não ter uma determinada lógica, mas dos elementos de voluntarismo de Trump. Ele não pode estabelecer uma “nova ordem mundial” sem passar por uma prova de forças; a virtualidade do poder econômico e militar dos EUA não basta para estabelecê-la: há um elemento de bravata.
Estamos a caminho de uma confrontação internacional a médio prazo? Pode ser, porque, afinal, como se funda uma nova ordem hegemônica sem uma prova de forças? Como se acomodam China e os EUA? Como se acomodam a União Europeia e a Rússia?
5 – Nossas tarefas
Temos três planos de leis construtivas. O primeiro, óbvio, é a juventude. O segundo, a nova classe trabalhadora. O terceiro, fazer-nos valer no terreno do marxismo. O quarto, desembarcar como corrente nos EUA. Ainda que alguns grupos da corrente sejam pequenos e façam sobretudo propaganda, a corrente sabe fazer política. Organizar o segundo congresso dos gig workers, que virá muito mais importante que o primeiro, não é uma ação de propaganda: é organizar os alicerces de um novo movimento operário.
O mesmo vale para o crescimento da juventude na Argentina e em outros lugares. A corrente vai ganhando lentamente um novo terreno. Não há ainda um salto qualitativo, estamos numa etapa de longa acumulação, há entusiasmo na base da corrente e acumulação de quadros jovens.
Além disso, a corrente tem estabilidade, tem calendário; a regularidade fraterna, ordenada, política, é chave. Trotsky dizia em seus escritos militares que a reflexão teórica sobre o exército começava por ensinar os soldados a amarrarem bem as botas.
Bibliografia
- Giorgio Agamben, Estado de exceção, Adriana Hidalgo Editora, Argentina, 2014.
- Valerio Arcary, “¿Sigue siendo válida la teoría leninista del imperialismo?”, Jacobinlat, 19/08/25.
- Hannah Arendt, Os orígenes do totalitarismo, Alianza Editorial, Espanha, 2014.
- Orain, Escalona e Godin, “Es evidente que el «capitalismo de la finitud» no necesita la democracia”, Sin permiso, 17/05/25.
- Thomas Hummel, “The buffon, the empire, and the crisis. Reflecting on trumpism at six month”, tempestmag.org, 20/07/25.
- Karl Marx, O capital, Livro I, O processo de produção do capital, vol. 3, Siglo Veintiuno Editores, México, 1981.
- Arno J. Mayer, As Fúrias. Violência e terror nas revoluções francesa e russa, Prensas da Universidade de Zaragoza, Espanha, 2014.
- Adam Tooze, “Trabalhar no terreno pedregoso e contraditório da conjuntura atual. Uma conversa com Hall, Massey e Peck”, Sin permiso, 25/05/25.
- León Trotsky, A guerra e a internacional, Ediciones del Siglo, Argentina, 1973.
- “O nacionalismo e a economia”, 30 de novembro de 1933, Marxist Internet Archive.
- A luta contra o fascismo na Alemanha, tomo II, Ediciones Pluma, Buenos Aires, 1971.
Notas
[1] Segundo o ChatGPT, a combustão é uma reação química de oxidação rápida entre uma substância (chamada combustível) e um comburente (geralmente o oxigênio do ar), que libera energia em forma de calor e, muitas vezes, de luz. Em termos simples: é o processo pelo qual algo arde.
[2] Um dos textos clássicos de referência para a análise internacional é o informe dado por Trotsky ao segundo ou terceiro Congresso da III Internacional, no início dos anos 1920, intitulado Uma escola de estratégia revolucionária.
[3] “As forças produtivas que o capitalismo desenvolveu transbordaram os limites do Estado. O Estado nacional, a forma política atual, é demasiado estreita para a exploração dessas forças produtivas. E por isso, a tendência natural do nosso sistema econômico busca romper os limites do Estado. O globo inteiro (…) se converteu em uma grande oficina econômica, cujas diversas partes estão reunidas inseparavelmente entre si (…) O que a política imperialista demonstrou, antes de tudo, é que o velho Estado nacional criado nas revoluções e guerras de 1785-1815, 1848-1859, 1864-1866 e 1870 sobreviveu e é hoje um obstáculo intolerável para o desenvolvimento econômico. A presente guerra é, no fundo, uma sublevação das forças produtivas contra a forma política da nação e do Estado. E isto significa o colapso do Estado nacional como unidade econômica independente” (Trotsky, 1973: 5).
[4] Em uma nota próxima faremos uma análise comparada dos genocídios contrarrevolucionários ao estilo do que vive hoje o povo de Gaza (e da cisjordânia).
[5] O debate sobre o caráter da China e da Rússia está em pleno auge entre as correntes do socialismo revolucionário. Fizemos aportes a este debate em vários textos e ensaios nos últimos anos a respeito de ambos os países. Resumidamente, consideramos que a China é um capitalismo de Estado e um imperialismo em construção, e a Rússia outro capitalismo de Estado com traços de “império territorial” em (re)construção. Por isso falamos de imperialismos tradicionais (os países do G-7 em torno da hegemonia estadunidense, a chamada Tríade) e os novos imperialismos: China e Rússia. A Índia, outra potência em plena ascensão, requer por ora uma análise mais matizada que aqui não podemos realizar.
Além disso, na análise de ambas as potências é fácil cair no campismo. Como durante grande parte do século passado foram países não capitalistas, os campistas buscam encontrar-lhes “traços progressivos” como se fossem uma alternativa emancipatória à dominação dos EUA. Autores como o marxista brasileiro Valerio Arcary, com quem costumamos polemizar, se encantam com a China, ainda que se digam “anti-campistas”: “Na China triunfou uma das maiores revoluções sociais camponesas e anti-imperialistas da história, a burguesia foi expropriada e fugiu para Taiwan. Iniciou-se uma transição pós-capitalista e, apesar de uma restauração capitalista controlada, que gerou um híbrido histórico em que se conjugam as relações de mercado com a planificação econômica, nem a burguesia interna nem a burguesia chinesa da diáspora têm em suas mãos o controle do Estado. O Estado está em mãos do partido comunista [comunista? sic] que sobreviveu a trágicas disputas internas. Na China, diferentemente da Rússia, o estrato social que assumiu o poder com a revolução de 1949, uma burocracia ideologicamente socialista [sic], não permitiu que o fortalecimento da burguesia interna destruísse as conquistas da revolução [duplo sic]. O Estado chinês é uma potência econômica emergente e, cada vez mais, militar e espacial, mas em sua política prevalece uma estratégia defensiva de acumulação de forças e preservação de posições. A potência que ameaça o mundo são os Estados Unidos” (Arcary, “¿Sigue siendo válida la teoría leninista del imperialismo?”). É significativo que nesse mesmo artigo Arcary defina a Rússia como um “imperialismo subalterno”, mas à China não atribua nenhum traço imperialista.
O que se percebe nas posições de Arcary é um paralelo com a análise de Giovanni Arrighi em Adam Smith em Pequim, que apresenta definições semelhantes em todos os sentidos, incluindo a ideia de que a China seria uma “potência benigna” e que o único inimigo seriam os EUA. De fato, a China tem um enfoque mais matizado dos assuntos internacionais porque baseia sua ascensão, por ora, em seu poderio econômico, para dizê-lo resumidamente. Mas quem pode descartar que se lance militarmente sobre Taiwan, por exemplo? O que Arcary nos oferece, em definitivo, mais além de sua tentativa de reflexão, é mais do mesmo: uma análise campista.
[6] O estancamento nos países centrais vem praticamente desde os anos 1970, e foi o que desencadeou a ofensiva neoliberal. Os desenvolvimentos são desiguais entre os EUA e as potências europeias, mas, basicamente, até mesmo os Estados Unidos se vêem pressionados pelas altas taxas de crescimento chinesas, o que é evidente.
Nosso companheiro Marcelo Yunes assinala que a revista inglesa The Economist funda agora suas esperanças de crescimento na produtividade do imperialismo tradicional com a inteligência artificial, mas Trump não parece ter paciência para ver o que resulta disso: daí os métodos de rapina anunciados e postos em prática, como o acordo por minerais com a submetida Ucrânia (submetida à partilha entre EUA, Rússia e UE; ainda bem que na Ucrânia não haveria um problema de emancipação nacional como opinamos nós! Voltaremos).
[7] Nesse sentido, podemos coincidir com Arcary quando assinala que, atualmente, “a definição de Estados imperialistas baseada em critérios quase exclusivamente econômicos se afigura anacrônica”, ainda que o faça criticando Lenin, que, por exemplo, definia a Rússia czarista durante a Primeira Guerra Mundial precisamente dessa maneira: como um “imperialismo militar-territorial”; se não a tivesse considerado assim, como um “imperialismo político”, Lenin teria sido «defensista» da Rússia czarista na IGM. A coisa é “simpática”, porque no início da agressão da Rússia contra a Ucrânia em 2022, o PTS argentino vociferava que a Rússia “não é imperialista” “porque não tem grandes multinacionais”, uma definição estritamente economicista. Em nossos textos desde aquele momento, sempre definimos a Rússia como imperialista pelos traços definidos cem anos atrás por Lenin; ver Sobre o caráter da guerra na Ucrânia e Sobre a dinâmica da guerra na Ucrânia, ambos em izquierda web. O problema nacional ucraniano, apesar de todas as suas contradições, é uma questão de enorme atualidade quando Trump e Putin querem repartir os despojos do país.
Por outro lado, em O imperialismo, etapa superior do capitalismo, texto clássico de Lenin, o que se perdia um pouco de vista, em nosso entender, não eram os elementos políticos ou extraeconômicos do imperialismo capitalista, mas uma coisa mais de fundo: a conexão entre a “superestrutura” imperialista como fusão ou constructo econômico-político e as formas de exploração especificamente capitalistas que não podem deixar de estar, de uma ou outra maneira, na base material de todo imperialismo capitalista moderno. Para dizê-lo claramente: as leis de valorização do capital. Outra coisa “simpática” a este respeito é que Rolando Astarita, economista marxista argentino, faz a Lenin precisamente a crítica da suposta falta de “politicismo” em sua definição: seu critério seria economicista, praticamente dando por abolido o imperialismo na contemporaneidade. Para piorar, faz isso quando o governo Trump significa, precisamente, o retorno do imperialismo em suas formas mais tradicionais (La izquierda y Lenin, sobre imperialismo y explotación de países, 04/07/2019).
[8] Provavelmente seja “heterodoxo” citar Arendt a respeito do imperialismo. Mas a realidade é que sua abordagem é aguda sobre o caráter do imperialismo tradicional: seus traços de império territorial e colonial, traços do “velho imperialismo” que hoje retornam e que também ressalta em suas análises do nazismo Enzo Traverso, um historiador, ademais, muito marcado por Arendt embora a tenha criticado, corretamente, por seu viés extremamente liberal.
[9] Em sua visão benevolente da China, Arcary esquece não só do recente subjugo de Hong Kong, mas também das contínuas ameaças da China à autodeterminação de Taiwan. Suas constantes manobras militares no Mar do Sul da China e no entorno da ilha, aparentemente, não existiriam para o marxista brasileiro.
[10] Com o conceito de “momento Rosa Luxemburgo” nos referimos em outros textos, de forma descritiva, a como Rosa conceitualizava o imperialismo como forma de resolver a crise da acumulação capitalista: a apropriação pela violência, por formas extraeconômicas, de novos espaços para instaurar a valorização do capital (Marx, Trotsky y Mandel O debate sobre a dinâmica histórica do capitalismo., esquerda web).
[11] Em rigor, no mecanismo imperialista há transferência de riqueza no mercado mundial sobre bases estritamente capitalistas vinculadas às diferentes composições orgânicas do capital. No entanto, para inclinar a balança na análise das atuais formas de imperialismo colocadas em prática por Trump, acentuamos o elemento extraeconômico, que é o mais propriamente colonial.
[12] Esta citação de Trotsky é interessante porque remete às análises sobre os perigos que pairam sobre o Brasil, onde em 2026 poderia haver um golpe de Estado se Bolsonaro (ou Tarcísio) forem derrotados em um segundo turno por Lula por margem ínfima, como em 2022, neste caso sob a presidência de Trump. Perigos que o autor e a revista mencionada abordam de maneira objetivista, porque retiram da equação o papel traidor e adaptado do PT à institucionalidade.
Arcary nos falou inúmeras vezes sobre o perigo da “derrota em frio” no Brasil. Mas sempre o fez deixando de fora da equação o papel traidor do PT. Teorizou-se de forma ridícula contra o papel fundamental das direções na luta de classes: são objetivistas da derrota.
[13] Tooze é um autor centrista liberal que tem sua agudeza. Não é marxista (ainda que conheça o marxismo), razão pela qual os elementos de “determinismo” em sua análise costumam ficar “no ar”. Sua própria definição do conceito de conjuntura é aguda, mas demasiado indeterminada. Por nossa parte, levamos adiante definições semelhantes — embora mais determinadas — em nosso Ciência e arte da política revolucionária: “O marxismo opera com várias escalas de tempo superpostas. Entre essas escalas de tempo, pode-se passar das mais imediatas, como a da conjuntura, à da época, com outras intermediárias como situações, etapas ou ciclos históricos (…) Não se trata de uma apreciação mecânica ou formal dessas categorias, mas de entender como se combinam as dimensões temporais e espaciais, como se constrói uma síntese de ambas as coordenadas, como se combinam as diferentes temporalidades ou os distintos planos das relações de forças, desde as mais históricas às mais conjunturais” (Sáenz, 2011: 23).
Em 2020, o marxista inglês Perry Anderson dedicou um longo artigo crítico às suas principais obras, “Situacionismo ao contrário?”, onde aponta corretamente que Tooze muitas vezes perde de vista os elementos materiais da análise, as determinações econômico-sociais em última instância; da mesma forma, não deixa de ser um pouco “enjoativo” e pedante: ele “assassina” Tooze a partir de um marxismo que não nos agrada, deutscheriano, esquemático e economicista, além de excessivamente “geopolítico”.
[14] O fato de não ser a aposta principal da burguesia nem seu pessoal mais direto se expressa nos diferentes graus de lumpenização dessas experiências. O caso de Trump é, diretamente, o mais orgânico, para além de seus traços de playboy. A questão é distinta com Bolsonaro e sobretudo com Milei, que é um caso extremo de lumpenização à frente de um Estado como o argentino, que vem de uma longa decadência, mas é um país com importante tradição própria em todos os âmbitos.
[15] Respeitam o calendário eleitoral e os mecanismos do regime, ainda que a extrema-direita os desrespeite todos os dias. Têm mais pânico da mobilização popular do que de qualquer outra coisa. São os archi-traidores do século XXI, apesar da tanga intelectual que lhes fornecem dia e noite escribas como os que criticamos habitualmente (Jacobin et al.).
[16] O quadro econômico que damos dos Estados Unidos é aproximativo. Não podemos, nesta nota, nos dedicar a estabelecer de forma sistemática os dados duros de sua economia, mas o conceito, acreditamos, está claro: os EUA hegemônicos que saíram da 2ª Guerra Mundial produziam metade do PIB mundial. Essa base material retrocedeu e não há conceito de Império ao estilo Tony Negri que salve a impossível ideia da desterritorialização total do imperialismo: “um império sem centro”, afirmava o pós-marxista italiano. Ocorre que as contas nacionais contam, e é aí que se acabam as palavras para a «desterritorialização» dos capitais e do próprio Estado. O trumpismo se queixa até de não poder depender para sua indústria militar das cadeias de fornecimento globais, sobretudo as da China, e é verdade que nisso há uma questão de “segurança nacional”, porque em caso de conflito estaria numa situação de perda de soberania militar. A crise geopolítica não só é grave, é de dificílima solução.
[17] O programa do Hamas é islâmico retrógrado e pró-capitalista, isso é claro. Tampouco coincidimos com os métodos de terrorismo contra a população civil, ainda que, no que toca à “guerrilha de massas”, a questão seja tática. A ação de 7 de outubro de 2023 combinou elementos de justa guerrilha contra a opressão com elementos de terrorismo, sendo estes últimos os que se voltaram contra. As ações terroristas costumam voltar-se contra o movimento de massas, embora possamos entendê-las neste caso pelas circunstâncias de sangue e lama em que vive o povo de Gaza. Entendemo-las, mas não as apoiamos.
[18] Fato a destacar é que não perdeu completamente o governo da Faixa. Esta é, aparentemente, a desculpa de Netanyahu para preparar a chacina da cidade de Gaza, supostamente sede do governo do Hamas e a mais importante cidade da Palestina.
[19] O economicismo cego do PSTU e do MRT brasileiros é proverbial. Nossa crítica a esses grupos está presente em todos os textos recentes de nossa corrente no país irmão do Brasil.
[20] A obra de Arno Mayer que estamos citando, As Fúrias, é excepcional, uma das melhores sobre a guerra civil que foram escritas nas últimas décadas. E seguramente sua obra dedicada à Frente Oriental na 2ª Guerra Mundial também é excepcional, ainda que ainda não tenhamos podido estudá-la.
[21] Myriam Bregman, na Argentina, deu o apelido de “gatinho manhoso” a Milei no debate presidencial de 2023, mas sua expressão foi infeliz: desarmou diante de um governo de extrema-direita que era e é um perigo, ainda que, pelo menos até agora, careça dos atributos para ir até o fim em seu ataque à classe trabalhadora, correndo o risco ainda de que as coisas se virem e saia voando pelos ares.
Traduzido por Martin Camacho, do original La era de la «combustión» – Izquierda Web.