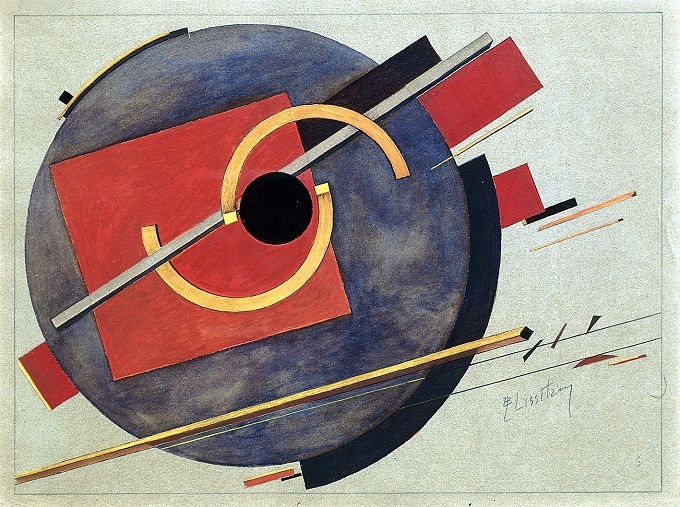“O que é que lhe dá esse caráter de capital antes de ser incorporado ao processo de produção (…)? É simplesmente a forma social sob a qual ela existe, a forma em virtude da qual o trabalho anterior, a atividade humana, as coisas, as condições materiais, são erguidas diante do trabalho vivo, diante do produtor, diante do homem, em tantas condições objetivas, substantivas e estranhas, na encarnação da propriedade alheia, e sob a qual eles mobilizam e dirigem o trabalho do qual se apropriam. em vez de ser aquele que se apropria delas. O fato de que o valor, seja dinheiro ou mercadoria, e até mesmo os meios de produção, confrontem o operário como propriedade de outra pessoa, só pode significar uma coisa, a saber, que se erigem diante dele como propriedade de pessoas que não trabalham (…) de sujeitos na pessoa dos quais esses objetos encontram sua própria vontade e aparecem personificados como poderes independentes (…) O sistema capitalista vira as coisas de cabeça para baixo (…) Os economistas vulgares – [são] incapazes de produzir qualquer coisa [científica] – (…) quanto mais a economia se aproxima de seu pleno desenvolvimento e quanto mais ela se revela como um sistema feito de contradições, mais levantam seu elemento vulgar contra ela (…) um amálgama desprovido de qualquer caráter”
(Marx, Teorias da Mais-Valia, Volume 2, “Economia Vulgar em Face do Problema do Lucro e dos Juros”)
A abordagem vulgar da economia em transição também se expressa na abordagem da planificação. O mote vem da época de Marx e Engels, e se referia aos economistas burgueses que permaneceram na superfície dos fenômenos, em oposição à economia clássica dos fisiocratas, Adam Smith, David Ricardo e outros economistas clássicos, na qual Marx reivindica um sério esforço científico para além de seus erros.[1]
Uma fonte metodológica extraordinária para apreciar essa crítica é um apêndice às Teorias da Mais-Valia, “A Economia Vulgar em Face do Problema do Lucro e do Juro”, um texto que acabamos de descobrir, mas que acaba sendo um clássico, não apenas por seus aspectos metodológicos, mas também porque traz à tona conceitos marxistas polêmicos como o fetichismo, desconhecido por autores como aqueles que seguem a escola de Althusser et al.
O fetichismo é interpretado por Marx neste texto como um mecanismo de inversão, onde o que é uma causa aparece como uma consequência e o que é uma consequência aparece como uma causa. Na realidade, o texto é simples em sua essência, pois o que ele tenta revelar é que o chamado “capital usurário” aparece fetichisticamente como um capital que gera capital, ou melhor, um dinheiro que gera dinheiro, na notação de Marx, D-D’ (dinheiro-dinheiro incrementado), como se isso pudesse acontecer sem passar pela produção. a fonte material de toda a mais-valia.
Marx acrescenta o óbvio a qualquer pessoa versada em economia marxista: a fonte da renda da terra e dos juros bancários (e outras formas de capital-dinheiro não fictício) não é outra senão o lucro, e a fonte do lucro não é outra senão a mais-valia, ou seja, o trabalho não remunerado do trabalhador ou trabalhadora. Para além da transformação de valores em preços e de todos os fenômenos que ocorrem na inter-relação entre a produção de valor e sua expressão no mercado, a fonte de toda economia política é uma só: a exploração do trabalho alheio que gera valor e mais-valia: “Para encontrar o fetichismo perfeito, temos que recorrer ao capital usurário. É o capital completo, no qual o processo de produção e o processo de circulação estão concentrados ao mesmo tempo, e que produz, dentro de um certo período de tempo, um certo lucro. Esse resultado é produzido aqui sem que o processo de produção ou o processo de circulação sirvam como mediadores nele. Na relação entre capital e lucro ainda existe, embora um pouco obscura, uma certa reminiscência do passado [essa referência é evidentemente a Hegel, que apontou que o desenvolvimento está oculto no resultado]. No capital usurário, o fetichismo automático já é perfeito, e estamos lidando com dinheiro que se valoriza, com dinheiro que dá origem a dinheiro. Aqui o passado foi completamente apagado. A relação social desaparece para ser substituída pela relação entre um objeto material, dinheiro ou mercadoria, e o próprio objeto” (Marx, 1974: 367).[2]
De qualquer forma, este texto de Marx serve de inspiração metodológica para o que se segue, que tem a ver com como abordar de forma não vulgar os problemas ligados à subsistência das categorias econômicas burguesas na transição.
1- Método marxista versus empirismo
A crítica da abordagem pueril dos fenômenos da economia capitalista se concentra nos economistas burgueses que se atem à superfície das relações econômicas do tipo “dinheiro para fazer dinheiro”, mas se recusam a apreciar as relações econômicas subjacentes, isto é, as relações de exploração sobre as quais o próprio conceito de capital se funda. Marx aponta que a economia clássica se esforça para analisar as várias formas de riqueza a fim de reduzi-las à sua unidade interna, investigando a forma externa sob a qual elas parecem coexistir, indiferentes umas às outras. Se esforça para entender as relações entre elas para além da multiplicidade de fenômenos puramente externos. Reduz a renda a uma espécie de “lucro excedente”, pelo qual deixa de ter existência própria e é emancipada de sua fonte aparente, a terra. Da mesma forma, também despoja os juros de sua forma pessoal, a fim de torná-los parte do lucro. Com isso, reduz a uma única categoria, a do lucro, todas as formas de renda e os vários títulos que permitem aos que não trabalham reivindicar uma parte do valor das mercadorias. Mas, por sua vez, o lucro é reduzido à mais-valia, uma vez que o valor de cada mercadoria é reduzido a trabalho, cuja parte remunerada é traduzida em salários e o restante em trabalho não pago, que o capital, depois de extraí-lo, se apropria gratuitamente invocando vários títulos. Coisas muito diferentes acontecem com a economia vulgar. Nela, todos os sistemas perdem o que os anima e lhes dá vigor e acabam formando uma confusão na mesa dos compiladores. Além disso, essa maneira de proceder é muito útil para a apologética. Sob a fórmula da terra-renda, capital-juro e do trabalho-salário, as várias formas de mais-valia e produção capitalista não aparecem como formas transfiguradas, mas como formas estranhas e indiferentes, como formas simplesmente distintas e não antagônicas (parafraseando Marx, 1974: 393/4/5).
Aqui, então, podemos fazer uma lista substantiva e metodológica para a crítica da economia vulgar, seja burguesa ou “socialista”: a) ela vai atrás das formas externas dos fenômenos; b) não reconhece que por trás de todas as categorias da economia política, sua “unidade de medida” e seu verdadeiro conteúdo é o trabalho humano; c) dá origem a um procedimento superficial e apologético; d) finalmente, se recusa a ver que todas as formas em que a mais-valia aparece não são reduzidas ao seu verdadeiro caráter, exceto de uma forma transfigurada e fetichista. “A forma da renda e as fontes de onde ela surge expressam as condições da produção capitalista sob uma forma fetichista. Aqui, a existência da renda, tal como aparece na superfície das coisas, é desagregada das relações sobre as quais repousa e de todos os elos intermediários (…) O coro de vozes dos agentes desse regime de produção reproduz naturalmente a falsa forma sob a qual a ideia errada é ocultada“, Marx, 1974: 396. A citação mostra toda uma série de definições ou “atributos” que caracterizam as formas fetichizadas de existência das coisas, formas que veremos como se expressam, especificamente, na transição.
Algo semelhante aos economistas burgueses vulgares ocorre com nossos “marxistas vulgares” no tratamento da transição socialista. Os seus reguladores: a planificação, o mercado e a democracia soviética, a ditadura do proletariado no seu todo, são abordados isoladamente, como Marx criticou os economistas vulgares, vivendo lado a lado, geralmente realizando oposições mecânicas, ou reduzindo a questões meramente técnicas o que são problemas sociais complexos (económico-social e político-social).
Assim, como Pierre Naville apontou, os marxistas vulgares perdem de vista o fato de que na transição – mesmo na transição autêntica, não inibida pelo stalinismo – a planificaçaõ aparece sobreposta ou justaposta a certas categorias herdadas do capitalismo, que foram estatizadas, mas ainda não eliminadas: “Ele [Preobrajensky] estava errado em entender em qual sentido as leis que administram a economia [transitória] são verdadeiras leis: A planificação considerada como tal é sobreposta e justaposta a certos modos capitalistas de produção e distribuição de mais-valia, em vez de substituí-los completamente. Tudo isso [isto é, a análise superficial da mecânica da transição] esconde mal um retorno ao empirismo (mesmo que interprete suas relações em uma linguagem de cálculos complexos) totalmente contrário às concepções metodológicas de Marx [concepções que, precisamente, estamos vendo com este extraordinário apêndice às Teorias da Mais-Valia que estamos comentando nesta nota]. De modo que (…) um século após a publicação do primeiro volume de O Capital, se a metodologia marxista ainda é legítima, é necessário responder ao desafio do empirismo expondo suas fraquezas” (Naville, 1970: 22).
A crítica a essa vulgarização dos processos em ação na economia de transição é o que abordaremos a seguir, focando, sobretudo, no problema do mercado, dos preços e da moeda em relação a planificação socialista e às relações valor-trabalho que ainda estão subjacentes a ela nas sociedades de transição. Faremos o mesmo em dois artigos. O primeiro é dedicado a considerações mais gerais sobre o assunto, e um próximo fincando os dentes mais diretamente nele.
Com base no que foi dito, vamos apontar que vários autores marxistas propõem que a planificação socialista aboliria, de um dia para o outro, as categorias mercantis. Além disso, há vozes fortes que opõem mecanicamente o plano ao mercado e vice-versa, deixando de fora, de passagem, os problemas de poder. No “vice-versa” devemos lembrar o famoso Manual de Economia Política, de 1929, dos professores “vermelhos” J. Lapidus e K. Ostrovityanov, da escola bukharinista, que reduziu todas as relações econômicas da transição à lei do valor. Ou seja, eles perderam de vista a dialética complexa e contraditória que surge entre planificação, mercado e democracia soviética na transição.
Vamos começar com o primeiro tópico. A suposta “abolição” das imposições de valor no setor eatatiizado da economia gerou a impressão de que a “pura vontade do planejador” poderia prevalecer dentro dele: este foi o caso durante o século passado da chamada “economia de comando administrativo” na URSS (e em vários momentos em outras sociedades não capitalistas): nesse caso, os preços de mercado, ou seja, vinculados ao cálculo do valor do trabalho, foram substituídos por alocações administrativas e todos os problemas da exploração do trabalho foram considerados “superados”; A lei do valor teria desaparecido no ar e com ela a exploração do trabalho alheio: o planeta do “trabalho puro” teria chegado, sem determinações sociais, a uma categoria supostamente “técnica”.[3]
No entanto, devemos recordar que a estatização das categorias da economia política (que expressam certas relações econômicas e sociais) e sua abolição total são momentos distintos na passagem do capitalismo ao comunismo: a) com a estatização dos principais meios de produção, circulação e troca, as categorias que compõem a economia política também são estatizadas, as relações econômicas herdadas do capitalismo: o trabalho é assalariado pelo Estado (ainda não está no nível do comunismo, marcado por alocações em “bônus de trabalho”, como disse Marx); a acumulação de capital é abolida, mas o dinheiro subsiste como instrumento de medida e meio de troca; a renda agrária permanece nas mãos do Estado como um subproduto da terra que está sendo estatizada, mas não pode ser considerado abolido;[4] b) a liquidação dessas categorias é, como já foi dito, um processo complexo de abolição-dissolução-superação das relações sociais herdadas do capitalismo que essas mesmas categorias pressupõem. Ou seja: a complexa dialética que esse processo acarreta. “(…) a análise é sempre uma condição necessária para qualquer exposição de caráter genético; sem ela não é possível compreender o verdadeiro processo de formação e desenvolvimento, nas suas várias fases” (Marx, 1974: 393).
O comunismo significa que todas as formas de exploração do trabalho alheio terminaram, algo que ainda não pode acontecer na transição socialista, onde subsistem formas derivadas de exploração (Naville). Chegando a este ponto, do comunismo, o trabalho é transformado em outra coisa, que em nossa opinião pode ser abordada mais genericamente como “atividade”, e na qual a distinção entre trabalho necessário e excedente tende a desaparecer.[5] Se for assim, se, como Marx apontou nos Grundrisse, o trabalhador não estiver mais subsumido no processo de produção, mas ao seu lado como controlador e vigia, o “calcanhar do valor do trabalho” da economia desaparece: “Marx escreve que sob a produção comunal ‘não haverá mais troca de valores de troca, mas, pelo contrário, a troca de atividades” e que “a troca de produtos não será de forma alguma o meio [médium] por intermédio do qual a participação do indivíduo na produção geral está mediada” (Grundrisse, citado por David Adam em “La crítica de Marx a los esquemas socialistas de trabajo-dinero y el mito del proudhonismo del comunismo de los consejos “).[6]
Como se vê, aqui não se trata da mudança entre “aplicações de trabalho”, conceito que Pierre Naville utiliza para apreciar as trocas de trabalho na transição e que fazemos nosso, mas, pelo contrário, pura e simplesmente da troca de atividades, um conceito mais genérico que parece deixar para trás a própria conotação de trabalho (explorado ou não) como uma forma determinada de subordinação da humanidade à natureza (uma subordinação que subsistirá em qualquer caso, além de suas formas históricas mutáveis).[7] À distinção acima, isto é, à troca de “aplicações de trabalho” na transição em oposição à “troca de atividades” no comunismo, atribuímos enorme importância. É necessário lembrar aqui a definição de Trotsky de que “a economia de transição difere da economia capitalista, mas não se difere menos da economia socialista“, ou seja, tem leis que que lhe são próprias. Essa distinção, que não era tão clara em nossos clássicos, que falavam apenas de “duas fases da sociedade de transição”, socialismo e comunismo, tornou-se mais concreta e determinada com a experiência do século passado, o que nos obriga a escapar das vulgarizações (muitos marxistas afirmam que Marx não gostava de fazer “elucubrações sobre o futuro” para escapar do que é a tarefa de nossa geração: tirar as lições das experiências de transição frustrada do século passado).
E essa distinção se baseia no fato de que a produção de riqueza nas sociedades em transição, uma vez que os capitalistas foram expropriados, ainda não pode prescindir da base do valor e do que lhe está subjacente: o trabalho humano. Ou seja, aquela forma de exploração derivada que se expressa na transição, que é a autoexploração do trabalho, ou pior ainda, o relançamento de mecanismos de exploração unilateral no caso da burocratização da revolução, seja na forma de uma “economia de comando administrativo” (uma planificação unilateral por cima que rejeita o desvelamento das relações materiais reais do trabalho humano e com a natureza, bem como as formas de autogestão, descentralização e cooperação por baixo que devem ser complementares), ou sob o “socialismo de mercado”, o que significa uma adaptação passiva à lei do valor que rege o capitalismo.
Mas se for assim, se as relações de “auto-exploração” ainda estão na base da produção, entende-se que a superação dessas mesmas relações sociais derivadas do capitalismo é um processo de transformação que não pode ser realizado de um dia para o outro; não pode ser resolvido com o ato político-social da revolução. É por isso que não é por acaso que, após a tomada do poder, continuamos a falar da revolução, porque, de fato, a revolução não termina com ela: ela continua no quadro internacional e com a transformação de todas as relações sociais no país da revolução, uma transformação que não pode ter nenhum caráter anticapitalista genérico. mas tem que ser socialista autêntico.[8]
Esta superação constitui a própria substância da transição e não pode ser reduzida a algo, repetimos, meramente técnico. Assim, concluímos que os problemas da economia de transição não são simplesmente de cálculo econômico, como têm sido repetidamente abordados. Esta é uma relação quantitativa derivada de um problema social, qualitativo: diz respeito à própria mecânica das relações entre planificação, mercado e democracia socialista em transição. “O número, por causa de seu princípio, que é um, é em geral uma coleção exterior, uma figura absolutamente analítica, que não contém nenhuma conexão interior. Uma vez que é enquadrado dessa maneira apenas extrinsecamente, todo cálculo representa uma produção de números, uma numeração (…)” (Hegel, 1982: 266).
Hegel deixa claro, de forma lógico-conceitual, o lugar do cálculo, que deve se referir não ao simples cálculo matemático-quantitativo, mas à própria substância do que é calculado: as aplicações do trabalho humano e o uso racional – metabólico – dos recursos naturais.
2- Cálculo econômico e marxismo vulgar
Ora, é isso que coloca em prática o problema específico, que requer graus mais determinados de análise, de qual é o lugar do mercado na transição (porque, de certa forma, o mercado também sofre diferentes graus de “estatização” na transição)[9]; como os preços são constituídos na economia planificada, como calcular “custos” e “benefícios” (Lenin disse ao esquerdista Bukharin que não podia perder de vista o fato de que na economia de transição deve haver algum “benefício”: não se pode trabalhar sistematicamente em detrimento dos custos de produção); que papel a planificação algorítmico pode desempenhar, etc., questões que por trás da ideia quantitativa de “cálculo” escondem, na realidade, um elemento qualitativo: a maneira como o trabalho social é distribuído (e, repetimos, os recursos naturais, que foram desperdiçados e considerados “infinitos” tanto pelo stalinismo quanto pela social-democracia no século passado (ideias prometeicas ligadas à produção sem fim e ao crescimento excessivo vêm daí); as proporções relativas de trabalho necessário e excedente e, correspondentemente, a gestão do produto excedente social (“La planificación después del estalinismo”, izquierda web).
É nessas relações socioeconômicas subjacentes que se baseia qualquer metodologia de cálculo econômico na transição. E a realidade é que a metodologia do cálculo econômico planificado era uma espécie de jargão nas sociedades não-capitalistas do século passado, não por causa de um fracasso intrínseco das economias planejadas como os ultraliberais Mises e Hayek disseram – para quem o mercado, o dinheiro e os preços seriam categorias trans-históricas – mas por causa de problemas mais determinados:
- A) Racionalizar o trabalho em uma sociedade pós-capitalista onde, a priori, a classe operária tem o poder, requer um alto nível cultural para que tal racionalização seja autoconsciente e não por uma disciplina imposta de fora. Tanto Samary quanto Farber destacam esse problema: a autodisciplina é uma prática que requer graus muito altos de autoconsciência e cultura, e é um fato que os bolcheviques se depararam com o problema da disciplina operária no local de trabalho.
As correntes autonomistas não entendem nada disso. Eles acreditam que dizendo “autonomia dos trabalhadores” o problema está resolvido, mas é muito mais complexo (os mencheviques também jogaram esse tipo de demagogia). Eles acreditam que quando Lenin se queixou de que os explorados e oprimidos estavam acostumados por séculos de subjugação a “dar o mínimo de si e obter o máximo possível” e que esse comportamento se repetiu com o Estado operário, foi porque Lenin era um “déspota” ou algo assim.
A realidade é que mesmo em um autêntico Estado operário, em uma ditadura do proletariado, onde não se trata apenas da vanguarda, mas da massa das e dos trabalhadores, das “camadas geológicas” que se aninham nas massas, seus diferentes graus de consciência e organização, seu nível cultural, seu compromisso político ou laboral, etc., mesmo que haja uma prática real de democracia socialista e autogestão no local de trabalho, o problema do trabalho e da disciplina social em geral é muito complexo.
A disciplina imposta de fora é simples: o cronômetro do jugo do trabalho te obriga, te submete a uma rotina que, se você não a cumprir, simplesmente não come. Mas a autodisciplina é outra coisa: requer um alto grau de cultura e autoconsciência. Assim, Lenin também buscou desesperadamente, nas formas de racionalização do trabalho capitalista, como o taylorismo e outros, uma maneira de “racionalizar” (disciplinar) o trabalho na transição. Se a abordagem acrítica do taylorismo foi um erro porque tomou como força produtiva o que era uma combinação inextricável de forças produtivas e relações de exploração, a ciência do cronômetro de trabalho a serviço da exploração do trabalho alheio [10] autores marxistas sérios afirmam que durante o século passado não foi alcançado, em qualquer caso, encontrar uma maneira de autodisciplinar o trabalho que não fosse externa, alienada (isso é lógico, porque todas as experiências de transição foram inibidas pela falta de poder proletário). Um desafio muito mais “simples” de enfrentar com uma autêntica ditadura do proletariado, onde as e os trabalhadores não se sintam alienados dos meios de produção e do poder, mas onde, mesmo assim, o legado da sociedade capitalista será sentido, e terão que ser encontradas formas de superá-lo (por outo lado, vamos apontar como os conceitos de estranhamento, fetichismo, alienação, etc., ganham vida na transição, não importa o quanto autores marxistas stalinistas como Althusser tentem remover a categoria de conceitos científicos: ele falou da “teoria improvisada da alienação e do fetichismo” de Marx. Ver, a esse respeito, o capítulo 3 do nosso volume I: Marxismo e a transição socialista. Estado, poder e burocracia). Como em tudo, também no que diz respeito à transição é preciso sair das análises vulgares e aprofundar os problemas reais que ela coloca (o da disciplina do trabalho é um deles).
- B) Também requer uma abordagem não vulgar que entenda que o complexo mecanismo da economia da transição combina, como apontamos, planificação, mercado e democracia socialista, e que, em última análise, é mediado pelo trabalho humano e pelos recursos naturais. O cálculo econômico expressa essas correlações sociais, um cálculo que na transição tende a ser ex ante e não ex post como no mercado, planificado e não anárquico, consciente e não espontâneo, mas nem por isso dispensando o que está sendo protegido, que é a distribuição do trabalho humano e dos recursos naturais.
Portanto, a “redução cibernética” desses problemas é um exercício de “socialismo vulgar”, embora a cibernética possa ser uma enorme alavanca para a planificação socialista no século XXI. A própria questão do que está sendo calculado não pode ser ignorada no cálculo econômico: aplicações do trabalho humano que, apreciadas ciberneticamente ou não, por meios administrativos ou de mercado, não deixam de ser o que são: a subsistência de relações de desigualdade que só podem ser reabsorvidas no curso da própria transição. (Dizemos desigualdade, porque não são necessariamente exploradoras; em todo caso, são relações de auto-exploração.) Dito de outro modo, o problema não é meramente técnico, mas, em primeiro lugar, social, embora o problema técnico tenha a sua especificidade, o que também deve ser dito.
Cockshott e Cottraill afirmam: “O ‘socialismo previamente existente’ estava limitado por um sistema deficiente de cálculo econômico. Esse aspecto é apontado por todos os críticos de direita. Consideram, justificadamente, que o sistema de preços em vigor na URSS tornava impossível o cálculo económico racional (…)” (Ciber-comunismo, 2017: 101). O “sistema de cálculo econômico” era, de fato, não apenas deficiente – como os autores ingleses o consideram benignamente – mas irracional. Foi deficiente durante a década de 1920: Trotsky e outros dirigentes bolcheviques sabiam disso e apontaram várias vezes em tempo real. O “comando administrativo” stalinista já era “o reino do rei Ubu”, como o próprio Mandel o definiu, em geral um autor marcado por uma grande cegueira para os problemas reais da transição. Em todo caso, o problema não se reduziu ao cálculo econômico, nem sequer começou com ele. Em vez disso, o cálculo deficiente foi um fator derivado da imposição burocrática sobre a classe trabalhadora, que não tinha arte nem parte para se expressar na produção. Ou seja, o problema básico era o não envolvimento das e dos trabalhadores na produção: trabalho relutante; a produção sistemática de produtos deficientes (o chamado “terceiro setor” da economia da URSS, de tão irracional que era); atribuições administrativas que não respondiam às questões de custo e qualidade dos produtos; o roubo sistemático de propriedade estatal; o surgimento de um mercado negro onde era possível obter tudo, mas a preços muito mais altos do que os oficiais; a existência de negócios exclusivos para a nomenklatura burocrática onde os produtos do Ocidente eram obtidos; etc., todas as questões que o cálculo econômico, por si só, não pode resolver. Pior ainda: eles não são reduzidos a um mero problema de cálculo! Vis a vis a crítica de Marx aos economistas vulgares em relação ao capital usurário: “A produção de dinheiro se apresenta, sob essa forma, como uma função própria do capital, algo como o crescimento em relação à árvore. Essa forma absurda com a qual nos encontramos na superfície das coisas, e da qual começamos, portanto, em nossa análise, agora nos é apresentada novamente como resultado do fato de que a forma do capital está se tornando cada vez mais divorciada de sua verdadeira natureza. O dinheiro, a forma transfigurada da mercadoria, foi o nosso ponto de partida e é novamente o nosso ponto de chegada (…)” (Marx, 1974: 375/6).
Reduzir os problemas a questões de cálculo, mesmo que os problemas de cálculo devam ser enfrentados, é evitar, repetimos para que se ouça bem, esquivar-se!, dos problemas de uma economia transitória que só pode ser dirigida conscientemente, com a crescente participação da sociedade e atenta às relações reais nas intermediações de trabalho na produção. com as e os trabalhadores como consumidores, nos intercabios de produção com a natureza, etc. (Como se vê, problemas irredutíveis a meras questões de cálculo: na linguagem hegeliana de que tanto gostamos, de qualidade e não apenas de quantidade!)
Em todo caso, o reducionismo tecnológico dos problemas de planejamento significa obscurecer tudo isso: se a gestão econômica desde o semi-Estado proletário tende a substituir o que antes era feito de forma espontânea e anárquica pelo mercado, se as alocações são ex ante e não ex post Como já dissemos, embora ainda se baseiem necessariamente em aplicações do trabalho humano, é evidente que sem o crescente envolvimento da população na direção da produção, somente por meio de ferramentas “técnico-cibernéticas”, não se alcançará uma nova forma de gestão da sociedade, de administração do trabalho humano, de superação da desigualdade: “Sua atenção excessiva aos inconvenientes do cálculo computadorizado deriva da escassa atenção que prestam à necessidade de um período de transição para o socialismo. É por isso que eles levam em consideração apenas a dimensão quantitativa (precisão das estimativas) e omitem as dificuldades qualitativas (graus de substituição de mercado) desse processo. Não registram que a eliminação prematura do mercado [e acrescentamos, mais importante, a estimativa dos inevitáveis graus de auto-exploração do trabalho] anula também os parâmetros que a estreia de um projeto emancipatório exige, para medir os avanços em direção ao socialismo” (Katz, 2004: 114).[11]
Um século após a experiência soviética, os avanços tecnológicos permitirão uma planificação econômica mais racional, isso é um fato. Acontece que o desenvolvimento das forças produtivas, que não são um fator independente, mas real, oferece outras possibilidades. É exatamente como Marx disse: nenhuma sociedade propõe algo que não pode realizar. E quando ele afirmou isso, fica claro que ele estava se referindo ao nível das forças produtivas conquistadas pela humanidade, que são as que estabelecem limites e potencialidades para o seu desenvolvimento: “(…) Cottraill e Cockshott fornecem argumentos interessantes para a defesa do projeto comunista e demonstram como a informatização poderia sustentar o plano e melhorar sua eficiência. Seus exemplos de coordenação computadorizada ilustram o tipo de uso socialmente benéfico de novas tecnologias, que os economistas ortodoxos e heterodoxos ignoram completamente. Aqueles que ponderam sobre a nova economia e a possibilidade de adaptar a manufatura aos gostos individuais com mecanismos just-in-time não perceberam que os mesmos cálculos em tempo real permitiriam conquistas muito maiores em uma economia removida da desordem capitalista” (Katz, 2004: 113). E o economista argentino acrescenta: “O planejamento computadorizado não é uma fantasia de ficção científica. É um mecanismo de cálculo inspirado na atividade atual de muitos organismos. É parcialmente usado pelas corporações para gerenciar internamente os processos de fabricação, o Pentágono para diagramar cenários de guerra e o FMI para projetar cenários econômicos” (idem: 113), sem esquecer de atualizar essas afirmações de 20 anos atrás com o que significa gerenciar o trabalho por algoritmos que ocorre na economia Gig, que atualmente serve apenas para explorar o trabalho, mas pode ser útil. na transição socialista, para racionalizá-la de forma emancipatória.
Como Katz enfatiza com razão, a irracionalidade burocrática do stalinismo não veio do fato de que não estava equipado com computadores (pelo contrário: com computadores, o panóptico stalinista teria sido pior do que foi: lembre-se que as forças produtivas também podem se tornar destrutivas!), mas da imposição burocrática sobre toda a sociedade, que, entre outras coisas, se expressava no trabalho na forma de relutância e não envolvimento no trabalho: a alienação do trabalho característica das sociedades burocratizadas, que não é exatamente a mesma que as capitalistas.[12]
Há um erro básico nos autores ingleses: eles igualam coisas que não podem ser equalizadas; sobrecarregar toda a espessura histórica do processo de transição. Para eles, a estatização dos meios de produção os transforma automaticamente em “propriedade social”. O próprio trabalho torna-se assim “diretamente social”, o que é ridículo. Como o trabalho supostamente se tornou diretamente social, sua medição não tem mais “segredos”: seu conteúdo é simples “valor-trabalho”, uma espécie de “trabalho abstrato” mensurável em simples “bônus de trabalho”, que, além disso, deixaram de ser dinheiro. Por um passe mágico, todas as categorias da economia política desapareceram: o trabalho já é social, os meios de produção também, o dinheiro desapareceu e nessas condições de “equalização” tudo se tornou transparente: os trabalhadores recebem exatamente o que deram por meio de bônus laborais.
É uma história feliz… só que é completamente falsa. Os meios de produção estatizados, apenas através de um longo processo, dão origem a uma verdadeira socialização da produção. Para que isso aconteça, as e os trabalhadores devem real e amplamente controlar a produção. Ao mesmo tempo, para que o trabalho se torne diretamente social, ele deve deixar de ser assalariado (a separação entre trabalho necessário e trabalho excedente deve desaparecer completamente). Finalmente, para que o dinheiro cesse completamente, a produção e a troca de mercadorias devem cessar completamente, e não apenas internamente, mas internacionalmente (no comércio exterior).
Quem pode pensar que na sociedade de transição tudo isso acontece automaticamente?: “O que Marx e Engels rejeitaram é a ideia de fixar preços de acordo com o conteúdo real do trabalho no contexto de uma economia produtora de mercadorias na qual a produção é privada. Pelo contrário, em uma economia onde os meios de produção estão sob controle coletivo, o trabalho se torna diretamente social, no sentido de que está subordinado a um plano central pré-estabelecido (…) Este é o contexto da proposta de Marx para a distribuição de bens de consumo por meio de “certificados de trabalho” (Cockshott e Cottraill, 2017: 129/30).
É uma fantasia acreditar que, porque “um plano central pré-estabelecido” governa, as categorias da economia política desapareceram. Uma fantasia que não passou no teste dos acontecimentos do século passado, embora isso não signifique o seu contrário: que é necessário adaptar-se passivamente às leis econômicas do capitalismo, que a lei do valor não deve ser infringida até certo ponto para que a acumulação socialista prossiga, etc., etc. O que acontece é que fantasias desse tipo se desarmam em relação às tarefas reais da transição, que têm a ver com a reabsorção progressiva das formas de exploração do trabalho que subsistem após a revolução e, ao mesmo tempo, a reabsorção das categorias estatizadas da economia política burguesa que subsistem na própria transição, bem como para reabsorver o Estado na sociedade. “(…) A eliminação da circulação monetária é um projeto comunista associado à dissolução do mercado e concebido para uma etapa avançada do socialismo. Antecipar esse processo histórico nas economias periféricas leva ao deslocamento social, porque a eliminação prematura do mercado leva à escassez, racionamento e transações clandestinas. Toda vez que se tentava anular administrativamente as funções mercantis da moeda, o “equivalente geral” ressurgia por meio de algum bem precioso ou de uma certa moeda estrangeira” (Katz, 2004: 112).
É ridículo atribuir os problemas das economias planificadas ao problema do cálculo econômico. Esse reducionismo é o que abriu as portas para autores antissocialistas como Mises e Hayek, que afirmam que ele não pode ser calculado em uma economia socialista (sic). Foi uma visão apologética da economia de mercado que sugere a ideia de que, como na natureza, apenas a espontaneidade pode funcionar na sociedade e não o elemento consciente. É uma forma grosseira de legitimar o capitalismo, à qual não é necessário responder com vulgaridades. Porque o problema do sistema de preços na transição não é um simples problema de informação, mas de como superar uma forma fetichizada de expressar as relações sociais: “É completamente errado supor que, pelo simples efeito das disposições governamentais, os bônus laborais [substituindo salários e dinheiro] possam operar efetivamente. O problema com esses artigos não está em sua introdução, mas em fazê-los funcionar. Apenas muito poucos países centrais têm atualmente o nível de bem-estar no consumo e produtividade na indústria que talvez torne parcialmente viável o início da aplicação desses bonos. Mas mesmo nesses casos seria aconselhável ser cauteloso nesses casos, pois se a maturidade capitalista nos permite conceber uma eliminação acelerada do mercado, não há razão para forçar essa extinção. O ritmo desse desaparecimento deve ser fixado pelo progresso do próprio socialismo. O mercado expressa relações sociais e históricas e, por essa razão, não pode ser abolido. A sua extinção pode ser orientada, mas a duração deste processo depende da plenitude alcançada pelos novos instrumentos de coordenação económica, cuja eficácia se tornará evidente à medida que a igualdade e o bem-estar forem alargados à sociedade como um todo” (Katz, 2004: 112).
3- Stalin como um “teórico”
É interessante ir a um texto clássico de Stalin em relação ao que estamos apontando. Stalin tem textos “clássicos”, não porque contribuam cientificamente, mas porque marcam vários momentos dos giros burocráticos.
Em “Os Problemas Econômicos do Socialismo na URSS”, de novembro de 1951, e devido às necessidades pragmáticas do momento, Stalin afirma que: a) “Às vezes se pergunta se a lei do valor existe e opera em nosso país, em nosso regime socialista [sic]. Sim, existe e age. Onde quer que haja mercadorias e produção de mercadorias, a lei do valor não pode deixar de existir”. E b) “Acho que é necessário rejeitar alguns conceitos tirados de O Capital – uma obra em que Marx analisa o capitalismo – e que foram trazidos pelos cabelos para aplicá-los às nossas relações socialistas [duplo sic]. Refiro-me, entre outros, aos conceitos de trabalho “indispensável” e “suplementar”. Marx analisou o capitalismo para esclarecer a fonte da exploração da classe trabalhadora, a mais-valia (…) Marx operou com conceitos (categorias) em plena correspondência com as relações capitalistas. Mas é mais do que estranho operar com esses conceitos agora que a classe trabalhadora, longe de ser privada do poder e dos meios de produção, é, ao contrário, a proprietária do poder e dos meios de produção” (ó donos e poderosos, diria Vasili Grossman em Vida e Destino!).[13] E acrescenta: “Hoje, em nosso regime, a conversa sobre a força de trabalho como mercadoria e a ‘contratação’ de operários é bastante absurda. É como se a classe operária, que possui os meios de produção, está se contratando a si mesma e vendendo a si mesma sua força de trabalho (…) Acho que nossos economistas devem acabar com esse desacordo entre os velhos conceitos e o novo estado de coisas em nosso país socialista.“[14]
Assim, seja rejeitando a existência da lei do valor na década de 1930, seja afirmando seu suposto caráter “transhistórico” em 1951, o que se mantém na avaliação de Stalin e de tantos “trotskistas” é a afirmação de que na URSS não existiam as categorias da economia política burguesa, que só podem ser extintas no processo de transição. É óbvio que, se a forma de trabalho assalariado subsiste, mesmo que se tente escondê-la, o trabalho necessário e o trabalho excedente (não o trabalho “suplementar”, como Stalin o chama!) inevitavelmente subsistem. A armadilha stalinista vale duplamente: a) ela erroneamente transforma – como todos os “socialistas de mercado” que apoiou com este texto – a lei do valor em uma lei a-histórica (Oscar Lange valorizaria positivamente este texto de Stalin, assim como Lukács), e b) como representante da burocracia, Stalin não pôde deixar de ocultar, fetichizar e mistificar a exploração burocrática realmente existente com a teoria do “trabalho puro” (um reducionismo técnico e “ontologizador” do trabalho).
É por isso mesmo que não é necessário apelar para as circunstâncias aberrantes do Gulag e de outras semelhantes para explicar os mecanismos de alienação e fetichismo que estavam presentes diariamente na URSS (embora logicamente o estudo dessas aberrações seja fundamental para entender por que a URSS foi transformada em um estado burocrático, uma questão que abordaremos em nosso volume 2 como parte da compreensão dos mecanismos de acumulação burocrática embora, na realidade, não seja o objeto específico de nosso trabalho).[15] A narrativa do “trabalho puro”, ou a separação absoluta das e dos trabalhadores do controle e direção da produção, contribuiu para esses mecanismos de resistência individual diante de circunstâncias injustas, que se apresentaram na forma do roubo sistemático da pequena propriedade estatal, seus maus-tratos porque se vivia – e era! – alheia (estranhamento, alienação, fetichismo são conceitos que dialogam entre si!), o trabalho relutante, a existência de uma economia de “duplo setor” – o permeável mercado negro onde se obtinha tudo o que não estava no mercado oficial, de tanques a um quilo de pão – bem como o trabalho oficial e não oficial, os que permitiam que o salário fosse cumprido, etc.
Bibliografia
David Adam, “La crítica de Marx a los esquemas socialistas de trabajo-dinero y el mito del proudhonismo del comunismo de los consejos “, Google, 09/05/25.
Víctor Artavia, “Notas Militantes sobre o Marxismo e a Transição para o Socialismo, Capítulo 3″, Esquerda Web.
Cornelius Castoriadis, Lo que hace a Grecia, 1. De Homero a Heráclito. Seminarios 1982-1983. La creación humana II, Fundo de Cultura Económica, México, 2022.
Claudio Katz, El porvenir del socialismo, Imago Mundi, Tool, Argentina, 2004.
G.W.F. Hegel, Lecciones sobre la historia de la filosofía, I, Fundo de Cultura Económica, México, 2008.
–Ciência de la lógica, Solar Editions, Buenos Aires, 1982.
Karl Marx, Teorías de la plusvalía, Volume 2, Alberto Corazón Editor, Madrid, 1974.
Pierre Naville, Le Noveau Leviathan, Antropos, Paris, 1970.
Paul Cockshott e Maxi Nieto, Ciber-comunismo, Planificación económica, computadoras y democracia, Editorial Trotta, Estado Espanhol, 2017.
NOTAS:
[1] Há um lugar-comum na confusão entre a economia científica dos economistas burgueses clássicos e a economia burguesa vulgar. Logicamente, as aporias dos primeiros derivaram, por assim dizer, de seu “caráter de classe”, mas não se deve esquecer que Marx construiu sua crítica sobre os avanços alcançados por eles, muito diferente do que aconteceu com os economistas vulgares, puramente ideológicos. Os epígonos de Althusser dos pampas argentinos parecem esquecer isso, um Althusser que vulgarizava tudo ele próprio.
[2] Vale ressaltar que a edição com a qual estamos trabalhando em dois volumes é uma tradução da antiga publicação dessa obra incompleta de Marx por Karl Kautsky (1905/1910), que foi traduzida para o espanhol por Wenceslao Roces para o Fondo de Cultura Econômica em 1947, e usada novamente por Cartago em 1956. Aparentemente, a edição do stalinismo apresentada como “mais confiável” é a da editora Dietz Verlag em três volumes, publicada em Berlim em 1965, 1967 e 1968, que em vez de ter o estilo de obra acabada que Kautsky lhe deu, teria respeitado o arranjo original dado a ela por Marx em seus manuscritos de 1861-63 (uma edição que também temos em nossas mãos).
Certamente, terá havido outras edições mais tarde, e no MEGA2 você certamente encontrará a edição definitiva desta obra. De qualquer forma, não temos nenhum problema em trabalhar com a edição de Kautsky, porque para o nosso “paladar”, ela não pode ser pior do que uma edição stalinista, apesar de seu reformismo (um reformista não é obrigado a esconder o conceito de fetichismo, enquanto um stalinista é!).
[3] Essa confusão – egoísta – está ligada a outra que saiu da pena do próprio Engels: que no comunismo, “da dominação das pessoas passaremos para a administração das coisas”. Nesse caso, o que é de ordem político-social também foi reduzido a relações estritamente técnicas. Isso estava ligado à ideia de que “a política desapareceria”. Mas, como apontamos no volume 1 de nossa obra, não há como os assuntos políticos, ou seja, os assuntos que dizem respeito a toda a sociedade, desaparecerem com o desaparecimento das classes sociais, mas sim assumirão outras formas: “Falaremos também da polis, da cidade, da criação dessa forma de vida coletiva e do que a acompanha, isto é, a auto-instituição de um corpo de cidadãos que se consideram autônomos e responsáveis, e se governam legislando (…) É, em suma, não apenas o nascimento da democracia, mas também da política no verdadeiro sentido do termo. Antes disso, não há política, não há atividade coletiva que vise a instituição da sociedade como tal (…)” (Castoriadis, 2022: 42).
De alguma forma ligada ao exposto estava a ideia, compreensível em nossos clássicos, de que a nacionalização dos meios de produção significaria, quase automaticamente, sua socialização, o que leva a um reducionismo técnico das relações de trabalho, que continuam a ser sociais na transição (reducionismo que está no paladar de todos aqueles marxistas que reduzem os problemas da transição a uma mera questão de cálculo econômico, veremos). É preciso um longo caminho, por exemplo, para acabar com a divisão entre trabalho manual e intelectual, entre outras fontes de desigualdade social.
[4] Abolir a renda da terra tiraria todo o fundamento do imposto que o Estado proletário cobra dos camponeses por usufruí-lo. Acontece que se a revolução eventualmente der a posse “perpétua” da terra para aqueles que não a possuem, a propriedade permanece nas mãos da ditadura do proletariado. Logicamente, os problemas da renda agrária adquirem uma característica totalmente diferente nas sociedades com um campo capitalista desenvolvido. Casos como o argentino referem-se à socialização direta do campo, pelo menos na área central do chamado “Pampa úmido” (A rebelião do 4 x 4).
[5] Há uma longa discussão sobre a natureza do trabalho. Uma discussão que transita entre dois limites: a) o eterno metabolismo com a natureza do qual a humanidade não consegue se livrar; b) o debate sobre se a conotação desse metabolismo é trabalho e se o trabalho, como tal, é um “protótipo” da atividade humana (como afirma Lukács em Ontologia do Ser Social, obra que ainda não pudemos estudar). Embora tenhamos escrito várias vezes sobre essa questão, inclusive por referência a autores como Alfred Schmidt, conhecido por sua obra O Conceito de Natureza em Marx – um marxista alemão da “Escola de Frankfurt” que mudou várias vezes de posição sobre o assunto – na realidade o que nos interessa aqui é a crítica à ontologização do trabalho como trabalho feita pelo stalinismo e pela socialdemocracia, em detrimento da ideia de trabalho como trabalho, ou seja, atividade, uma definição mais genérica que, pelo que foi apontado, nos simpatiza mais. A discussão está aberta a novas reflexões de nossa parte.
[6] “A ‘moeda de trabalho’ de Owen, por exemplo, não é mais ‘dinheiro’ do que um ingresso de teatro. Owen pressupõe um trabalho diretamente social, uma forma de produção diametralmente oposta à produção de mercadorias. O certificado de trabalho é simplesmente uma evidência da participação do indivíduo na produção social e a expressão de sua reivindicação a uma certa porção do produto comum que foi reservada para consumo. Mas Owen nunca cometeu o erro de pressupor a produção de mercadorias, enquanto, ao mesmo tempo, fazendo malabarismos com o dinheiro, ele tentou ‘cercar’ [negar] as condições necessárias dessa forma de produção” (David Adam citando O Capital, vol. 1, idem). Voltaremos a isso abaixo.
[7] Em O mal-estar na cultura, Freud deixa claro que, de uma forma ou de outra, essa subordinação à natureza é constitutiva dos seres humanos e das sociedades. Se no psicanalista vienense muitas relações históricas aparecem mitificadas ou naturalizadas, em todo caso a subordinação humana à natureza, mesmo que ela mude em suas formas históricas, é inerente à condição humana: é uma relação trans-histórica.
[8] Anticapitalistas genéricos são transformações das relações de propriedade, como as enfrentadas pelo stalinismo no campo na década de 1930 na URSS, ou as nacionalizações da propriedade no período pós-guerra nos países da Europa Oriental, mas sem a participação dos trabalhadores e camponeses, sem seu livre arbítrio e poder. o que inibiu sua dinâmica para a socialização da produção e a reabsorção do Estado pela sociedade.
[9] Os mercados regulados são, em certa medida, mercados “estatizados”, politizados, algo que ocorre não apenas na transição, mas também em vários momentos do capitalismo, embora não correspondam ao conceito puro de capitalismo, ao modo de produção especificamente capitalista, nas palavras de Marx.
[10] A este respeito, é necessário rever a obra clássica de Benjamin Coriat, A Oficina e o Cronômetro, que não temos em mãos no momento.
[11] Katz acrescenta que ambos os autores desconhecem que, sem essa referência comercial, os cálculos se tornam abstratos, independentemente da qualidade do software ou hardware usado pelos computadores. E que essas estimativas “perdem qualquer base comparativa para avaliar o grau de eficácia do plano na gestão compulsória. Se, por outro lado, em vez de dissolver administrativamente o mercado, for feito um trabalho para sua extensão progressiva, esse padrão permanece em vigor e é possível analisar como a socialização progride à medida que a atividade do mercado diminui” (Katz, 2004: 114).
[12] Como Cockshott e Cottraill, e não por acaso, isso escapa a Maiello e Albamonte, que, com uma vulgarização tecnologicista semelhante, reduzem os problemas do planejamento a questões de cálculo econômico: “(…) Se o sistema de preços é um sistema de transmissão de informações, é claro que pode ser substituído por outro. A única limitação para conseguir isso seria de natureza técnica, relacionada à capacidade de processamento de dados necessária para o volume de informações em uma economia em tempo real” (Maiello e Albamonte, Debates e Fundamentos da Luta pelo Socialismo Hoje). Mas o sistema de preços não é simplesmente “um sistema de transmissão de informações”, mas uma maneira historicamente determinada de “gerenciar” o trabalho humano! Esconder isso é fazer o jogo da vulgarização stalinista das coisas, nem mais, nem menos.
[13] Victor Artavia, referindo-se a Firtzpatrick e Applebaum, aponta que, em seu auge, o Gulag chegou a explorar 14 milhões de trabalhadores para as obras de acumulação burocrática primitiva (“Notas Militantes sobre o Marxismo e a Transição para o Socialismo, Capítulo 3″, Esquerda Web).
[14] A falsa ideia de que “a classe trabalhadora não poderia explorar a si mesma” estava presente entre os economistas da Rússia Soviética já nos debates da década de 1920 e, em particular, em A Nova Economia de Evgeni Preobrazhensky . Mas descobriu-se que a classe trabalhadora pode “explorar” a si mesma e não pode deixar de fazê-lo na transição, pelo menos nos países atrasados, e além disso, aconteceu que na URSS foram relançados os mecanismos de exploração unilateral do trabalho pela burocracia.
[15] Ou seja, nosso trabalho tenta obter lições universais sobre o processo de transição socialista e sua degeneração burocrática, não especificamente para responder no estilo de um estudo classificatório sobre o que exatamente era a URSS, embora seja claro que nos orientamos em torno da definição de Cristian Rakovsky da URSS da década de 1930 em diante como um estado burocrático com resquícios da revolução.